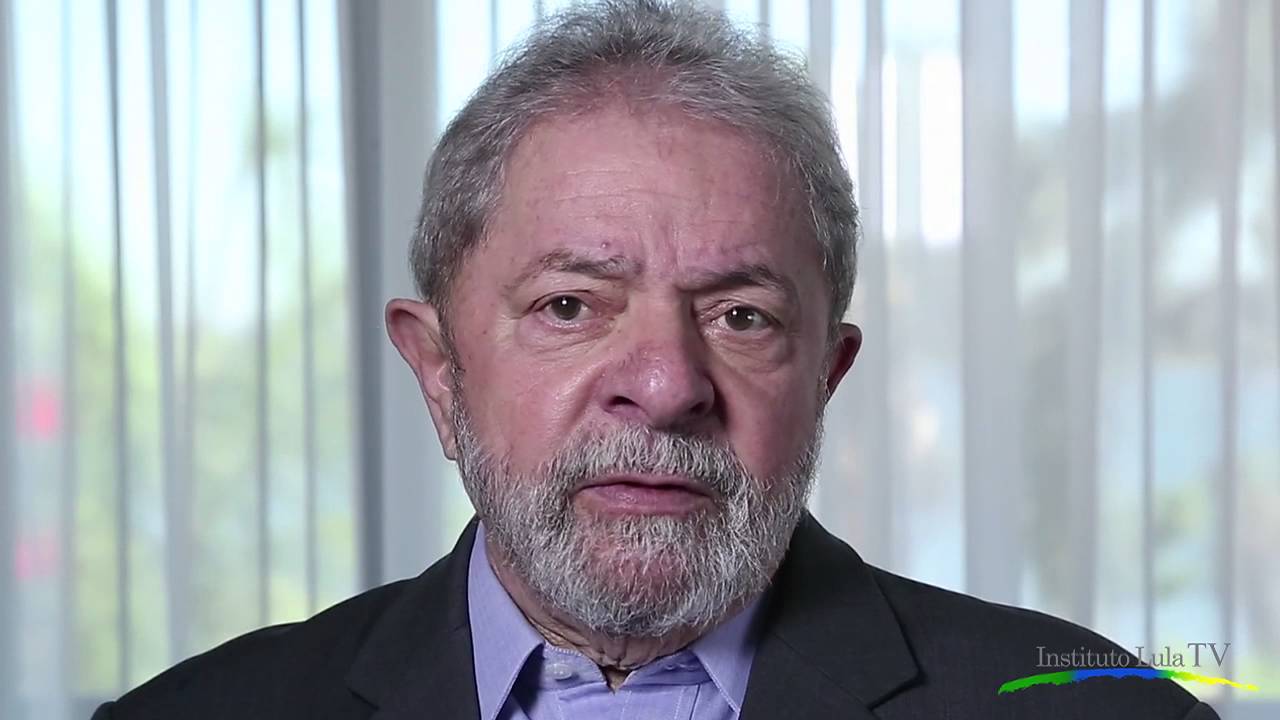Por: Patricia Facchin | 06 Novembro 2018
A vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano expressa a “lógica da maximização do individualismo liberal, que o lulismo promoveu obsessivamente”, diz o antropólogo Ricardo Cavalcanti-Schiel à IHU On-Line. Segundo ele, o novo governo será marcado por um “projeto de regulação social ultraliberal” que tem como característica o “individualismo possessivo, em conjunção com a lógica do privilégio”. Na prática, vislumbra, a nova gestão “vai se assentar sobre uma considerável devastação dos bens públicos (meio ambiente, reservas naturais, bens da União ― Terras Indígenas, por exemplo ―, Sistema Único de Saúde, empresas estratégicas...) ou, em última instância, do próprio espaço público”. Comparando o novo governo com as gestões anteriores do lulismo, Cavalcanti-Schiel é categórico: “Se o lulismo nunca teve por objetivo promover um Estado do bem-estar social, só o que muda agora com o bolsonarismo é a intenção deliberada de promover o Estado do mal-estar social, em nome do individualismo predatório”.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o antropólogo comenta o discurso de pacificação do presidente eleito, e afirma que ele “significa a negação do conflito, nos termos de um componente militar da sua lógica política, que é o da tutela”. Essa lógica, explica, “funciona assim: ao se considerarem a salvaguarda em última instância da ‘soberania nacional’, as instituições militares se creem igualmente, em nome dela, dotadas da prerrogativa, se necessário, da tutela dessa mesma sociedade, inclusive para salvaguardá-la da perda de algo que ela não alcançaria reconhecer, que é a tal da ‘soberania nacional’. Só que essa lógica da tutela, no seu grau maximizado (e a ditadura militar assim o demonstrou), significa a pura e simples subserviência, única linguagem que, no fim das contas, um autoritário fala e entende. Essa é a linguagem de Bolsonaro”.


Ricardo Cavalcanti-Schiel | Foto: Universitat Autònoma de Barcelona
Ricardo Cavalcanti-Schiel é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, mestre e doutor em Antropologia pelo Museu Nacional, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Realizou pesquisas etnográficas entre comunidades indígenas no sudeste amazônico, no Alto Xingu, e nos Andes meridionais bolivianos. Realizou atividades pós-doutorais no Laboratório de Antropologia Social - LAS do Collège de France, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH da Unicamp e na Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas- CSIC, Espanha). Atualmente é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
Confira a entrevista.
IHU On-Line - Qual sua avaliação do resultado das eleições presidenciais deste ano?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - Tenho lido várias análises que tendem a enfatizar o caráter singular, quase excepcional, da eleição de Bolsonaro, como um marco de término de um certo período da história política brasileira ou algo do gênero. Para mim, esse tipo de avaliação tem valor, antes de mais nada, retórico. Creio que ainda é cedo para reconhecer o significado contextual mais amplo desse momento. No geral, o presidencialismo de coalizão ainda deve continuar dando as cartas do jogo, a blindagem de uma corte executiva e legislativa regida pela troca conspícua e venal de favores continua garantida (mesmo que mudem os atores circunstanciais), e a monarquia judicial conservadora ainda está longe de estar sob ameaça ― uma monarquia judicial que tem sua razão de ser não na promoção da Justiça, mas na promoção da Obediência (e a obediência à Lei é apenas o pretexto sobre o qual, na realidade, se desdobram os muitos casuísmos da velha obediência ibérica).
Em termos de relações estruturais, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Muda-se apenas um certo tom do estilo de governança do país por parte das castas senhoriais, mas esse tom (e apenas ele) vem mudando periodicamente, dependendo apenas da escala que se desenhe para medir a “mudança”. Não estou nem falando de regimes do capital, como gostam os marxistas. Estou falando de um regime de persistente acanhamento da cidadania. Para a grande maioria da população brasileira, em termos de direitos, já de antes de 1988 para hoje as mudanças foram notavelmente circunscritas. Elas incidem, quase sempre, de forma minoritária e pontual, servindo então como diversões táticas sobre as quais se constroem discursos políticos para consumo das classes médias.
Gestão petista
A narrativa de que os governos federais do PT possam ter representado um interlúdio nesse cenário de acanhamento persistente da cidadania, hoje já é claramente reconhecida (exceto pelos petistas) como fantasiosa. A derrota eleitoral do PT não deixa de ser uma expressão maciça desse reconhecimento (que os petistas continuarão se recusando a admitir). A experiência petista de governança apenas deu, aqui e acolá, uma ou outra tintura, muito superficial, aos fenômenos conformados pela velha e sempiterna lógica do privilégio, radicalizando inclusive sua feição liberal, que é o que proporcionou esteio axiológico para a ascensão (e, portanto, a legitimidade simbólica) da extrema direita.
Todo o período dos governos petistas foi marcado pelo desinvestimento simbólico do espaço público e pelo horizonte ideal de saída dele pelos cidadãos: fazer um plano de saúde privado, colocar os filhos numa escola particular, conseguir um financiamento para o diploma universitário na fábrica da esquina para isso habilitada, apropriar-se individualmente de uma marca “étnica” para ganhar uma quota universitária, comprar um carro para poluir mais o mundo, inflar a bolha imobiliária em um espaço urbano vandalizado que, por fim, faz as pessoas se refugiarem na assepsia dos shopping centers (mesmo que para isso tenham que fazer um “rolezinho”), ao invés de irem a parques, bibliotecas, espaços de convivência coletiva, lúdica e cultural... etc etc.
Bolsonarismo
Os valores sobre os quais se assenta a legitimidade e reconhecimento do bolsonarismo são apenas o paroxismo disso tudo. A vitória de Bolsonaro é tanto filha imediata da sociabilidade das redes digitais quanto filha mediata da ideologia lulista das oportunidades. E tudo isso responde à lógica da maximização do individualismo liberal, que o lulismo promoveu obsessivamente.
Se o lulismo nunca teve por objetivo promover um Estado do bem-estar social ― o “social”, no fundo, como instância lógica, mais que apenas retórica, sempre esteve fora e além da agenda lulista ―, só o que muda agora com o bolsonarismo é a intenção deliberada de promover o Estado do mal-estar social, em nome do individualismo predatório.
O bolsonarismo vai além da figura de Bolsonaro. Ele já existia antes, em projeto, com José Serra e outros cardeais da mesma estirpe do PSDB. Ele é a conjunção do velho autoritarismo senhorial com o moralismo tacanho do patriarcado, com os delírios selvagens dos libertarians do [Movimento Brasil Live] MBL, com a teologia da prosperidade das seitas pentecostais, e com a subserviência geopolítica aos velhos patrões do norte. A eleição de Bolsonaro, a meu ver, insinua a possibilidade de uma mudança de grau, mas não de natureza, no quadro geral das relações sociais no Brasil, onde a cidadania e os bens sociais (aí incluído, por exemplo, o meio ambiente) sempre tiveram um estatuto precário.
IHU On-Line - Em seu terceiro pronunciamento após as eleições, Bolsonaro disse que “vai buscar, seguindo o exemplo do patrono do Exército brasileiro, Duque de Caxias, pacificar o nosso Brasil (...) sem eles contra nós e nós contra eles”. Como avalia esse tipo de declaração e a referência a Duque de Caxias?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - Em primeiro lugar, o dispositivo discursivo intelectualmente primário de alguém como Bolsonaro não funciona sem muletas semióticas que operam como ícones sumariamente mi(s)tificados. No sentido antropológico, Bolsonaro não habita o mundo dos mitos; habita o mundo das farsas; farsas que têm com os mitos uma relação parasitária. E às vezes são farsas de segunda ordem: farsas que se alimentam de outras farsas que se alimentam de mitos.
O primarismo do Bolsonaro aqui é o de querer decalcar, para a sociedade civil, o clichê militar (e farsante) de Caxias como “o pacificador” (aquele da “medalha do Pacificador com palma”). Isso acaba resultando em uma imagem imperial, cesarina, com cheiro de quartel, de gueto militar que preza, antes de mais nada, pela tutela da sociedade civil, como o Duque de Caxias que impôs a ordem imperial a ferro e fogo. Assim, “pacificação” no sentido de Bolsonaro significa a negação do conflito, nos termos de um componente militar da sua lógica política, que é o da tutela.
Eu defendo analiticamente que a lógica da tutela é constitutiva da cosmologia das instituições militares brasileiras. Ela funciona assim: ao se considerarem a salvaguarda em última instância da “soberania nacional” (uma categoria que a própria sociedade civil não se preocupa em debater, delegando-a à discursividade militar), as instituições militares se creem igualmente, em nome dela, dotadas da prerrogativa, se necessário, da tutela dessa mesma sociedade, inclusive para salvaguardá-la da perda de algo que ela não alcançaria reconhecer, que é a tal da “soberania nacional”. Só que essa lógica da tutela, no seu grau maximizado (e a ditadura militar assim o demonstrou), significa a pura e simples subserviência, única linguagem que, no fim das contas, um autoritário fala e entende. Essa é a linguagem de Bolsonaro.
Quando alguém originário do meio militar fizer uso de uma evocação capital e sincera ao exemplo de Rondon, e não ao de Caxias, aí sim, pode-se começar a suspeitar que se trata de alguém interessado no povo brasileiro, e não na sua tutela.
IHU On-Line - Em artigo recente o senhor afirmou que o “projeto de Bolsonaro, no fim das contas, curiosamente, é mais universalista que o do PT”. Quais são as características que indicam esse caráter universalista do projeto ou do discurso de Bolsonaro?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - O universalismo de Bolsonaro é o de uma nação abstrata regida por um único critério, aquele que Crawford Brough Macpherson chamou de “individualismo possessivo”, e que produz o que também Macpherson chamou de “sociedade possessiva de mercado”. É um critério que pretende ter efeito regulatório geral, e nisso ele supera a desarticulação dos particularismos pós-modernos e sua incapacidade de promover um projeto de sociedade para além de um moralismo fragmentador da política, como o expressava Roberto Dutra Torres Junior aqui mesmo no site do IHU. Só que é um universalismo que volta lá para trás, para então regurgitar o neoliberalismo hardcore.
De qualquer maneira, o poder de agregação (e congregação) dos discursos universalistas é sempre maior que a agenda particularista das políticas de identidades. A eleição de Trump deveria ser vista como uma boa lição. A potência do lema “Make America Great Again” não está tanto no “great”. Esse é o elemento semiótico subsidiário, potencialmente passível até de um questionamento quase que imediato (e essa foi a armadilha estendida para os “progressistas”, que nela caíram e se enredaram). A potência desse lema está no “America”, naquilo que abarca a todos como communitas. Sem ela, nada (nessa perspectiva) mereceria ser “great”.
O próprio PT só se mostrou viável politicamente, lá nos anos 80, quando abandonou seu antigo lema “trabalhador vota em trabalhador” (uma espécie de particularismo classista), para começar então a falar dos problemas do Brasil. Voltar agora com essa história de “mulher não vota em Bolsonaro” é jogar para perder. Nos Estados Unidos, 53% das mulheres brancas teriam votado no Trump.
IHU On-Line - O que significa dizer que o projeto de Bolsonaro é universalista, mas não é cidadão, como o senhor o classifica?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - Não é cidadão porque não se fundamenta na equanimidade dos direitos, mas na predação possessiva (para usar, mais uma vez, a referência do Macpherson), em um contexto sociocultural pré-conformado, que é o da velha e ibérica lógica do privilégio.
Quando eu falo em equanimidade dos direitos, contra a predação possessiva, eu implicitamente evoco o conhecido exercício lógico uma vez feito por Norberto Bobbio, sobre se é possível deduzir a igualdade da liberdade... ou se é possível deduzir a liberdade da igualdade. Bobbio “resolve” o problema argumentando que, numa situação em que todos são livres a priori, reconhece-se implicitamente que uns terão a liberdade de se sobrepor aos direitos de outros (e aí entra a possessividade), de onde se torna impossível deduzir, logicamente, qualquer igualdade, qualquer equanimidade. Já a liberdade, essa sim pode ser deduzida da igualdade, porque se a igualdade é dada, como antecedente, todos podem ser igualmente livres, como consequente. A cidadania e o direito se assentam, por princípio, sobre a ponderação do todo, e não sobre a primazia de alguns.
Como fórmula liberal distributivista (a do John Rawls), mas igualmente “possessivista”, as políticas de identidade também se assentam sobre a primazia de alguns. Não vai ser esse o caminho para equacionar a cidadania.
IHU On-Line - O que deve caracterizar o que o senhor chama de “projeto de regulação social ultraliberal” do governo Bolsonaro?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - Em termos genéricos, vai se caracterizar por isso que eu aventava logo antes: o individualismo possessivo, em conjunção com a lógica do privilégio. Em termos práticos, vai se assentar sobre uma considerável devastação dos bens públicos (meio ambiente, reservas naturais, bens da União ― Terras Indígenas, por exemplo ―, Sistema Único de Saúde, empresas estratégicas...) ou, em última instância, do próprio espaço público. O Brasil, com toda certeza, vai sair menor como país depois de Bolsonaro. Menor em termos de complexidade econômica, de capacidade científica, de condições de soberania, de presença como player geopolítico... Tende a virar uma fazendona, sob a chibata de coronéis selvagens... e capatazes ainda mais selvagens.
Vai ser um teste de força para a nossa complexidade social. A barbárie bolsonarista é a simplificação reducionista. Dado o grau de autoritarismo das figuras centrais do próximo governo (de Bolsonaro a Moro, de Malafaia a Onyx Lorenzoni), ou a complexidade social acaba com eles ou eles acabam com a complexidade social. Sinceramente, ainda aposto na primeira alternativa. Mas os danos serão tremendos. O governo Bolsonaro não deve se caracterizar pela construção de nada. Assim como o governo Collor, é bem possível que ele entre para a história pela destruição que vai produzir. Para construir é preciso gerir a complexidade. Isso é o antípoda da agenda anunciada pelo bolsonarismo.
IHU On-Line - O que o senhor chama de “componente militar da lógica política do eleito Bolsonaro”?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - De novo, em termos mais genéricos, é aquilo a que eu me reportava como a lógica da tutela. Mas aqui é preciso introduzir um pouco mais de complexidade e gradação.
Muitas pessoas tendem a assumir como “militar” algo que parece uma substância homogênea. É muito comum ouvir até que “os militares” estarão no poder com Bolsonaro. Aqui eu tenho que falar como antropólogo e como ex-nativo dessa tribo. Meu pai era militar, eu passei três anos em uma escola preparatória do Exército, quatro anos na academia da Marinha, fui oficial por quase dez anos. Sou tão “capitão” quanto Bolsonaro ― a diferença é que tenho mais tempo de serviço que ele. E também pertenço a antigas turmas de oficiais.
Os altos comandos das Forças Armadas são constituídos por uma certa variedade de linhagens (éticas, ideológicas, doutrinárias), que buscam continuamente se reproduzir e reproduzir seus espaços de influência institucional. Eu diria até que essa diversidade relativa é crucial para as Forças Armadas não se engessarem (e os milicos talvez nem desconfiem que foi Lévi-Strauss quem propôs isso como regra geral para a humanidade).
Os “militares”, em termos genéricos, apesar de comungarem uma mesma visão de mundo (e, para entendê-la, o valor heurístico da lógica da tutela não me parece desprezível), guardam uma certa variedade interna. Em primeiro lugar, Bolsonaro pode gozar até de uma grande simpatia entre os militares, mas o arco de aliança com as suas ideias (ou, antes, suas atitudes) é fundamentalmente costurado com o que se pode chamar de “linha-dura”, e essa é só uma das linhagens militares. A assim chamada Abertura Política, na ditadura militar, só foi possível porque Geisel conseguiu mover as peças para afastar o general Sílvio Frota do Ministério do Exército em 1977. Exigiu certo trabalho imobilizar a linha-dura. Quatro anos depois eles ainda estavam colocando bombas, as mesmas que inspiraram um aloprado Bolsonaro cinco anos depois do Riocentro.
Então, não dá para fazer uma equiparação sumária entre “militares”, Forças Armadas e poder militar. São instâncias categoriais distintas. Bolsonaro pode se sentir extremamente seduzido (como qualquer autocrata) pelo controle do poder militar. Isso não quer dizer que ele vá ter controle sobre as Forças Armadas como instituição. Seria simplório. É mais fácil Bolsonaro ser sutil e sistematicamente desgastado pelas Forças Armadas do que ter controle sobre elas. É a própria lógica da tutela que conspira a favor da “relativa autonomia do campo” militar, para falar como Bourdieu. A partir dessa lógica, as Forças Armadas zelam por ser “uma coisa à parte”, e sabem que não é prudente cometer desatinos em um campo complexo de relações, exceto, claro, os da linha-dura, que se caracterizam, antes de mais nada, pela indigência intelectual, pelo simplismo das apostilas ideológicas.
E tudo isso vai depender das relações que o futuro governo vai construir com outras instâncias institucionais, como o STF, por exemplo, que, a meu ver, vai ser o primeiro “inimigo a ser batido” por Bolsonaro ― e precisa ser, porque é o inimigo mais poderoso, e Bolsonaro precisa aproveitar o acúmulo inicial de força eleitoral, antes que se desgaste. Bolsonaro já avisou que quer mexer no STF. Um soldado, um cabo e um jipe podem até ser suficientes. Resta saber se os generais vão entregar um soldado, um cabo e um jipe. Um paisano aloprado batendo continência no meio da rua não faz a menor ideia do que se passa na cabeça de um general com 40 anos de serviço e uma larga experiência nos gabinetes da corte militar. O problema é que o último processo eleitoral foi caracterizado por uma extrema passionalidade. E aí as cabeças das pessoas começam a funcionar sob curtos-circuitos simplórios.
IHU On-Line - Em artigo recente o senhor afirmou que o discurso petista nas eleições deste ano caiu no vazio. O que é possível esperar do discurso petista daqui para frente? O pronunciamento de Haddad após o resultado das eleições indica como possivelmente será o discurso petista?
Ricardo Cavalcanti-Schiel - Suspeito que o discurso petista vai continuar reincidindo sobre a esterilidade. À diferença até das Forças Armadas, o PT tem dado provas de que não tem mais diversidade interna... ao menos uma diversidade interna orgânica, informacional, questionadora (porque é muito fácil fazer loas à “diversidade” quando ela é tão apenas nominalista, aleatória, reiterativa, acabando por se tornar inócua, senão meramente guetificadora ― que é o discurso neoliberal sobre a diversidade).
Quem ficou no PT parece cultivar uma atitude de descolamento da realidade, agravada por um sentimento de intimidação por todo o resto, da direita à esquerda. O PT está ilhado e parece ter adotado como princípio de existência sequer pensar na possibilidade de uma autocrítica. Como eu disse no meu artigo, o PT padece de uma síndrome de anquilose crônica. Tenho a impressão de que a população percebe isso; percebe que o PT se enclausurou nas suas verdades e não quer mais falar com ninguém. Isso agora de o PT dizer que “possui” 45 milhões de votos, por exemplo, é sinal de um patetismo agonístico, de não ter entendido quase nada do que estava realmente em jogo nas últimas eleições.
Sinceramente, creio que só há possibilidade de pensamento político crítico e criativo, pela esquerda, fora do PT. E digo isso como alguém que militou no PT por bastante tempo, que sofreu sindicância, punições e investigações nas Forças Armadas por ter feito essa opção. Mas nada compensa existencialmente mais que o esforço permanente por manter alguma lucidez.
Leia mais
- Os diabos no meio do redemoinho
- O Brasil e a direita shopping center
- Não foi preciso esperar 500 anos para concluir que há um grau altíssimo de arbitrariedade entre representantes e representados. Entrevista especial com Gabriel Tupinambá
- A fuga para dentro do capitalismo e a aceleração da democracia. Entrevista especial com Bruno Cava
- 'A extrema direita, antes de ganhar o parlamento, ganhou corações e mentes e espalhou sua mensagem para todos os cantos do país'. Entrevista especial com Henrique Costa
- Uma política transformadora depende de uma identidade coletiva e de um Estado forte. Entrevista especial com Roberto Dutra Torres Junior
- Eleições 2018: Um pleito que revelou muito da sociedade e do Estado. Primeiras análises
- Do lulismo ao bolsonarismo. Entrevista especial com Rosana Pinheiro-Machado
- Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo
- Da esperança ao ódio: Juventude, política e pobreza do lulismo ao bolsonarismo
- Os recados do STF a Bolsonaro sobre “autoritarismo” e projeto “Escola Sem Partido”
- A apreensão com a força de Bolsonaro entre os militares
- Parte do Exército busca blindar imagem da Força caso Bolsonaro fracasse
- Farda, família e mercado: os homens que compõem o círculo de poder de Bolsonaro
- Bolsonaro e as Forças Armadas: a desastrosa imagem associada
- Quem é Onyx Lorenzoni, cotado por Bolsonaro para a Casa Civil
- Que governo é esse?!
- Sete propostas de Jair Bolsonaro contrárias ao meio ambiente
- “O Brasil vai ter de jogar uma coisa muito difícil em democracia, que é manter a memória”. Entrevista com Boaventura de Sousa Santos
- ‘Vouchers’, ensino à distância e universidade paga, os planos na mesa de Bolsonaro
- A hora dos intelectuais
- 'Reputação do liberalismo no Brasil pode ser arruinada'. Entrevista com Eduardo Giannetti
- "Bolsonaro terá um ano para mostrar resultado". Entrevista com Sérgio Abranches
- O que prevê para o Brasil professor de Oxford que enxergou força política de Bolsonaro já em 2016