O professor compreende que o anarquismo é uma abordagem possível quando há entrega ao ato de ‘pensar sobre o pensar’ e analisa as contribuições de David Graeber nesse mesmo movimento
Não é estranho afirmar que anarquismo e antropologia se cruzam, mas o interessante é pensar como o primeiro subverte o cânone do campo antropológico. É nesse sentido que vai a reflexão do professor e pesquisador Orlando Calheiros, que tensiona esses campos a partir de uma análise de parte da obra de David Graeber. “Considero Dívida a sua obra de maior impacto”, destaca na entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. “Este livro demonstra que a antropologia, que um trabalho propriamente antropológico, tem algo de relevante a dizer sobre macroeconomia. Melhor, que este debate é importante demais para ficar restrito aos economistas e ou cientistas políticos”, detalha.
E não é sem motivo que essa obra tem vindo à tona, pois a atual conjuntura evidencia, entre os múltiplos estados de crises, um importante desajuste de ordem macroeconômica. E mais: a experiência da pandemia provocada pela covid-19 trouxe ainda mais luz sobre esse problema macro, mas que se revela implacável sobre vidas humanas mais vulneráveis. “A pandemia escancarou um problema óbvio: que o sistema que vivemos, o capitalismo global, o neoliberalismo etc…, tem um limite. O limite não é apenas a terra, como os liberais colocavam, mas a própria vida como um todo”, enfatiza Orlando. Afinal, “os mais pobres foram os mais sacrificados pela pandemia, foram eles, seus corpos, sua vida, o que garantiu ao sistema sobreviver quando todos os demais podiam se preservar em seus lares”.
No entanto, não pense que o professor faz uma leitura apaixonada dos escritos de Graeber, tomando seus insights como única saída para nossos problemas. Pelo contrário, traz uma leitura crítica capaz de apreender potências e ver nas fragilidades questões a serem desenvolvidas. “Acho que alguns dos problemas levantados em seu livro Dívida nos oferecem argumentos interessantes para entender como esse processo se tornou global, como ainda persiste”, contextualiza.
Por fim, ainda observa como a fricção entre antropologias e anarquias pode fazer avançar as reflexões sobre nossos problemas e também como pensamos sobre eles. “Anarquia não é sinônimo de desordem, de voluntarismo, muito pelo contrário, ela aponta para uma relação não régia com a vida, isto é, busca uma solução não estatal para os problemas. E que o ato de pensar – pensar sobre o pensar – pode e deve ser encarado como um desses ‘problemas’ e, portanto, passível de uma abordagem anarquista”, resume.

Orlando Calheiros (Foto: Arquivo Pessoal)
Orlando Fernandes Calheiros Costa é doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Museu Nacional, onde coordenou o Grupo de Estudos da Ciência e Tecnologia e permanece como pesquisador do Núcleo de Antropologia Simétrica - NAnSi. Trabalhou como pesquisador sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, coordenando o Grupo de Trabalho Araguaia na Comissão Nacional da Verdade. Atuou ainda como pesquisador colaborador do Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Realizou pós-doutorado no Departamento de Filosofia da PUC-Rio, onde também atuou como professor visitante.
IHU On-Line – Que conexões podemos estabelecer entre antropologia e anarquismo?
Orlando Calheiros – Existe uma relação congênita entre antropologia e anarquismo, melhor, entre as antropologias e as anarquias. Bem, é inegável que o berço da antropologia foi o colonialismo, que ela é uma expressão dessa tecnologia de opressão/dominação: seja como apêndice da operação colonial – pense aqui no seu papel da própria administração das colônias –, seja reforçando a concepção de uma suposta singularidade, uma excepcionalidade euro-americana (citadina, branca, masculinista etc.) – pensando aqui em Morgan, por exemplo.
Isso é inegável, contudo, também o é que a antropologia, ao voltar suas atenções para sociedades outras, outros mundos que não o nosso, se confrontou com os próprios limites da sua linguagem descritiva, da sua própria antropologia.
Basicamente, os bons antropólogos e antropólogas – da maneira como os concebo – são/foram aqueles, aquelas que se mostram/mostraram capazes de adequar a sua linguagem descritiva à própria linguagem daqueles com os quais estudam. Fazer (boa) antropologia é pensar com o outro – não sobre o outro –, é um encontro no sentido técnico do termo. Esse é um ponto importante, muito bem notado por Clastres: o paradoxo da antropologia é, justamente, ser uma ciência sobre a não ciência. Com efeito, para o Ocidente, a “não ciência” é justamente a “ciência dos outros”.
A boa antropologia se funda nesse diálogo com o diferente, não para sobrecodificá-lo, como nos moldes do projeto colonial original, mas para, por meio desse contato, se transformar, produzindo uma linguagem descritiva – e uma imaginação – menos viciada, coloquemos assim, pela metafísica liberal que está na origem da disciplina.
E aí que nos deparamos com o anarquismo. Acontece que a antropologia sempre teve como seu elemento crucial essa relação com povos outros, povos cuja vida, pensamento, é marcado por uma existência para além e para aquém da marca estatal. Com outras palavras, povos que organizaram sua existência, que criaram uma forma de vida que não se baseia nos princípios dos estados nacionais modernos (ou das monarquias europeias).
Não é coincidência que, por exemplo, Mauss em seu célebre Ensaio sobre a Dádiva nos fale sobre uma vida social que se funda na troca e não na sujeição à sociedade (como no pensamento liberal), que Radcliffe-Brown vá buscar nos escritos sobre solidariedade de Kropotkin uma linguagem capaz de dar conta da criatividade social dos andamaneses.
Nesse ponto, querendo ou não, a antropologia se aproxima das anarquias (pois o Anarquismo, enquanto uma teoria unificada, não existe), porque se aproxima de uma linguagem sobre uma criatividade não estatal, uma vida não régia.
IHU On-Line – Quais as contribuições de David Graeber para o campo da antropologia?
Orlando Calheiros – De um lado, a grande contribuição dele foi chamar a atenção para um debate sobre os intramuros da disciplina (e da própria produção universitária estadunidense) e fazê-lo de uma ótica muito específica – e explicitar isso. E esse é um ponto importante, pois a dimensão propriamente política de seus escritos nunca ficou em segundo plano, algo que você poderia apenas intuir. Pelo contrário, ele incorpora o problema à própria linguagem descritiva, uma linguagem que se imagina comprometida com uma perspectiva não estatal. Se ele foi capaz de se manter fiel a essa perspectiva ao longo de seus escritos, e o que significa esta perspectiva não estatal em seus termos, é uma outra discussão. Mas esse tipo de movimento deve ser saudado, sem dúvida.
Não é à toa que em seus escritos posteriores ele vai se debruçar sobre os “empregos de merda”, sobre o dispositivo da “dívida” e, de forma mais abrangente, sobre os dispositivos de dominação, buscando fundar uma espécie de teoria etnográfica da origem das realezas (seu último livro).
Sua obra se debruça sobre uma certa “criatividade da dominação”, vamos chamar assim. E esse é um ponto interessante. Sobre como a dominação não cria apenas um vácuo criativo etc., mas como ela está na origem de movimentos, espaços que consideramos insuspeitos, até mesmo “livres”. Isso não é exatamente algo novo na antropologia, nas humanidades, muito pelo contrário, mas ele o fez de uma perspectiva assumidamente anarquista. E isso me parece interessante, apesar de certas reservas que tenho com seus resultados.
IHU On-Line – Na sua opinião, qual a melhor obra de David Graeber? Por que e quais as maiores contribuições desse trabalho?
Orlando Calheiros – Considero Dívida a sua obra de maior impacto. Primeiro em sua difusão, foi uma obra que reverberou em cenários usualmente avessos ao discurso antropológico, especialmente, um discurso antropológico comprometido com uma certa vertente política. Estudantes de Economia leram Dívida, estudantes de Direito também.

Dívida, em Português. São Paulo: Três Estrelas, 2016. | Imagem: Divulgação
Enfim, este livro demonstra que a antropologia, que um trabalho propriamente antropológico tem algo de relevante a dizer sobre macroeconomia. Melhor, que este debate é importante demais para ficar restrito aos economistas e ou cientistas políticos – não se trata aqui de uma crítica aos meus colegas de humanidades, friso. O livro cria uma narrativa interessante sobre este dispositivo de dominação e conversão, de como ele foi e permanece sendo utilizado – em um sentido quase estrutural – em diferentes contextos. O livro descreve a “invenção da dívida”, isto é, aquilo que ela inventa, sobre como ela se torna um código que atravessa nossas relações.
Mas isso não é tudo, esta obra, como a antropóloga Isabela Kalil bem notou, abre espaço para se repensar o próprio conceito de classe em ambientes citadinos, uma atualização da marcação/demarcação econômica da população: abre espaço para um vocabulário (e uma mobilização) que leve em conta a forma como estas populações estão endividadas. É como se diz na minha terra, pobre tem dívida, rico tem crédito. Por incrível que pareça, essa frase diz algo muito profundo sobre a forma como somos marcados pela nossa relação com a dívida.
IHU On-Line – Recentemente, você resenhou On Kings (Chicago: HAU; Illustrated Edition, 2017), uma das últimas obras de Graeber. De forma breve, qual sua avaliação sobre a obra e como se revelam nela as potências e limites do autor?
Orlando Calheiros – Esse é um dos trabalhos que mais me incomodou. Para começar é fundamental salientar que o livro não é apenas de Graeber, ele é o autor de metade do livro, enquanto a outra metade é escrita por Marshall Sahlins. Tanto que temos, ali, duas descrições paralelas e algo concorrentes sobre a emergência do poder régio. Meus problemas com Graeber começam no momento em que ele se propõe a criar uma teoria do sentido para fundamentar a fratura social que funda uma monarquia, no momento em que ele atribui a emergência de uma instância régia a uma espécie de incapacidade interpretativa dos humanos, melhor, dos “outros humanos”.
Basicamente, a instância régia, um patamar divino, é aquilo que aparece diante da nossa incapacidade de interpretar certos fenômenos. E isso me parece uma ideia tão fora do lugar no atual cenário antropológico que compromete toda a sua descrição do fenômeno.
Esse tipo de interpretação – já presente em alguns de seus artigos pretéritos – me parece muito pouco comprometida com uma perspectiva “não régia” da ciência. Me parece muito típica de um certo regime moral do pensamento que marca a história clássica da antropologia. Aquele excepcionalismo dos modernos diante dos outros povos, enquanto os modernos “sabem”, os outros povos “acreditam”, enquanto os modernos encontram explicações precisas para os fenômenos da natureza, os outros povos inventam deuses, reis etc. Em certo momento, ele afirma categoricamente “It is in this absolute absence of meaning that we encounter the Divine”, ainda, faz algumas generalizações sobre a ideia de sagrado que nos remetem às repisadas teses dos estudos de religião comparada do estruturalismo britânico.
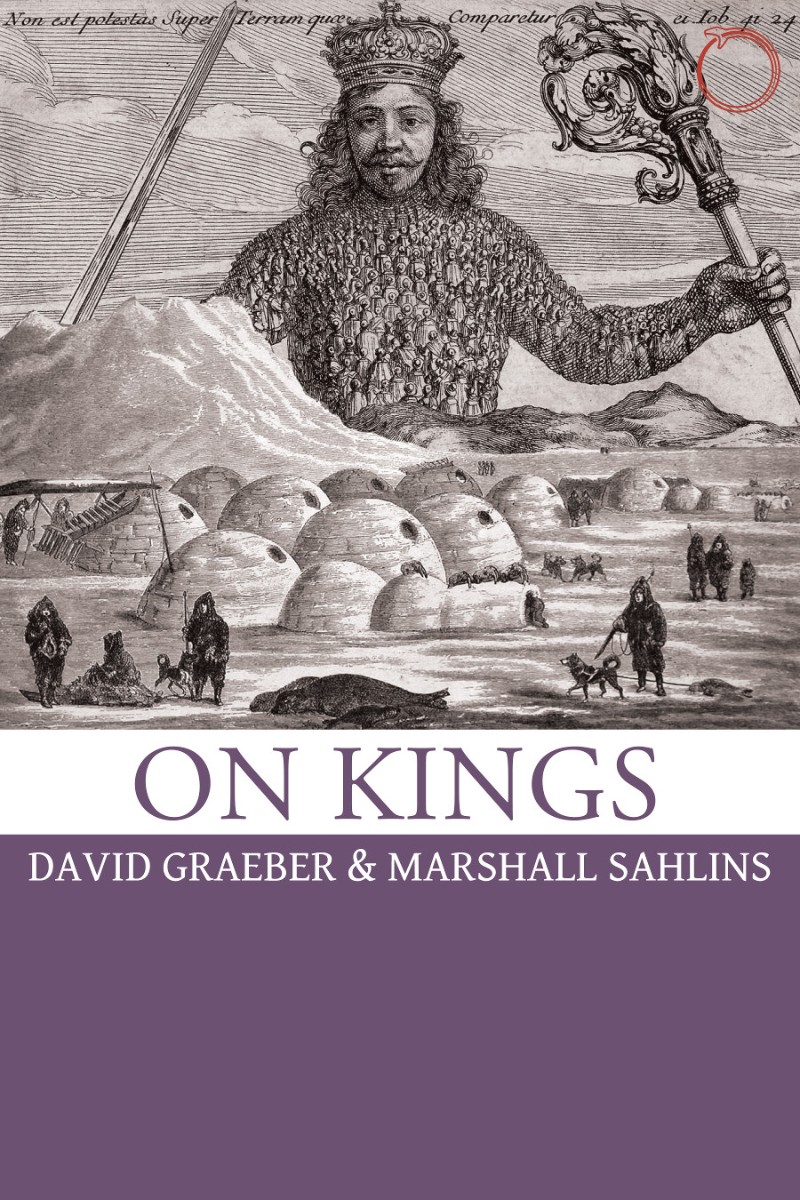
Para Calheiros, no livro, entre outros problemas, há “algumas generalizações sobre a ideia de sagrado que nos remetem às repisadas teses dos estudos de religião comparada do estruturalismo britânico” | Imagem: Divulgação
IHU On-Line – Para Graeber, o anarquismo não pode ser compreendido como uma identidade. Mas, para você, o que é o anarquismo? E como analisa essa percepção do autor?
Orlando Calheiros – Condensar o anarquismo enquanto uma identidade é condená-lo a ser mais um produto na prateleira do shopping da metafísica liberal. Como bem diz meu amigo Acácio Augusto, cientista político – ninguém é perfeito –, o ideal não é falarmos de anarquismo, mas de anarquias. Por qual motivo?
Bem, simples, quando olhamos para as diversas correntes do anarquismo com atenção, percebemos que a única coisa que as unifica é o seguinte: todas estão ligadas a um problema fundamental, uma cena originária – para falarmos como os psicanalistas. Sempre há um problema e – esse é o ponto – uma forma específica de se lidar com ele. Da maneira como vejo, esse é o fundamento dos anarquismos (ou das anarquias, para falarmos como o Acácio). Uma forma de se engajar em um problema, antes uma forma de se relacionar com ele – um tipo de relação –, do que propriamente uma solução.
E que relação é essa? Uma que aponta sempre para aquém e além da forma estatal. Basicamente, cada anarquismo se remete a um problema e a uma forma de pensá-lo para além ou para aquém do campo estatal. Do anarquismo verde, as anarcafeministas, anarquismo cristão, anarquismo ontológico etc… as vertentes do anarquismo, os múltiplos anarquismos nos remetem a problemas específicos (e ao mesmo tempo muito amplos) e de uma forma muito específica.
Por esta razão fica difícil – para não dizer até contraditório – pensar no anarquismo, nos anarquismos em termos de uma identidade, seria antes uma prática, uma forma de engajamento.
IHU On-Line – Você trabalha com Isabelle Stengers e chegou a considerar que sua obra está no oposto da de David Graeber. Por quê? E onde é possível encontrar conexão entre os dois autores?
Orlando Calheiros – A obra de Stengers busca, continuamente, recolocar o problema sob outros termos. Por meio de seus textos, intervenções, a autora busca inscrever uma outra perspectiva de fenômenos que “supostamente” nos são familiares. Uma verdadeira ontologia do tempo presente – se fôssemos utilizar termos foucaultianos. Ou seja, ela não apenas descreve “como chegamos até aqui”, como o faz de uma forma que nos permita resistir a isso. Por isso ela busca se alinhar com linguagens estranhas: para expandir os termos dessa resistência.
Por exemplo, a ciência, o capitalismo, a crise ecológica. Sua própria escrita busca refletir isto: imprimir uma resistência pelo estranhamento. É, ainda como exemplo, a forma como ela reconfigura a crise ambiental sob os termos de uma intrusão de Gaia ou o capitalismo nos termos de um grande complexo de feitiçaria. Ela não o faz de forma leviana, ela o faz visando certos efeitos sobre seus leitores.
Existe toda uma relação de sua obra com aquilo que Deleuze e Guattari chamaram de o “novo idiota” que valeria a pena explorar em outra oportunidade. Mas o que nos importa é que Graeber parece operar na chave contrária, sua obra procura evidências, remetendo o seu sentido a uma espécie de verdade oculta dos agentes. Lembram do divino que emerge da ausência de sentido, pois então: a obra de Graeber parece estar sempre se remetendo a essa verdade oculta dos atores sociais.
Graeber parece almejar uma verdade, Stengers um “outramento” do pensamento. A segunda proposta me parece mais interessante.
IHU On-Line – Em que medida Occupy Wall Street transforma o ativismo político e as mobilizações sociais neste século? Como compreender essas mobilizações, que varreram o mundo de Ocidente a Oriente, a partir dos conceitos de Graeber?
Orlando Calheiros – Occupy Wall Street é antes de tudo um sintoma do que uma causa, poderíamos falar do altermundismo, das reverberações dos Fóruns Sociais Mundiais - FSM. Mesmo a tática de ocupação, adaptada para a questão da dívida universitária, não é nova, muito pelo contrário, você vai encontrá-la em diversos movimentos ao longo da história. E, veja bem, não apenas ao longo da história dos Estados Unidos, é algo muito mais difundido. Então, ao contrário de muitos, eu sei, não vejo o Occupy Wall Street como precursor de grandes mobilizações ao redor do globo. Antes, ele é sintoma de uma forma de se mobilizar e protestar que apareceu nos anos 90, avançou no começo dos anos 2000 e se consolidou no começo da última década. Especialmente por conta das redes sociais.
Um exemplo de como o Occupy não foi um raio em céu azul: tivemos o 15-M na Espanha. Antes tivemos a Primavera Árabe. E aqui começa algo interessante, pois todos estes se articularam por via das redes sociais. Nesse momento se começa a ver o potencial das redes para a articulação rápida, mobilizações capilares descentralizadas etc. Tudo se passa como se os movimentos de certa forma estivessem emulando as características das próprias plataformas onde se articularam. O meio não é apenas uma ferramenta de difusão, mas de conformação e orientação de uma libido revoltosa.
E esse me parece ser um ponto muito importante que tem sido ignorado. Inclusive pela obra de Graeber, que parte de uma perspectiva típica do seu tempo – como as coisas avançam rápido –, um certo otimismo diante dessa difusão virtual de ideias.
IHU On-Line – Como você analisa as manifestações atualmente, sobretudo no cenário brasileiro, depois de toda a experiência de Occupy Wall Street, Primavera Árabe, entre outras, especialmente as marchas de 2013?
Orlando Calheiros – Como disse, todos estes movimentos tiveram em comum uma relação profunda com as redes sociais. Com e como efeito, tiveram como marca um certo caráter difuso e uma certa velocidade típica das redes. Mais do que isso, foram movimentos descentralizados, compostos por grupos diversos a partir de uma causa original, mas que rapidamente ultrapassaram o seu problema inicial e deram voz a demandas políticas heterogêneas. Tudo se passa como se, durante estes eventos, uma timeline estivesse nas ruas: inúmeras pessoas revoltadas, reclamando de coisas diferentes e em um mesmo lugar.
Precisaríamos abrir uma outra entrevista apenas para falar sobre isso, mas o ponto é: tais revoltas, insurreições, movimentos, como você quiser chamá-los, refletiram de forma profunda a estrutura das redes onde foram gestados. E não apenas em termos organizacionais, mas em termos de uma subjetividade revoltosa.
IHU On-Line – Nesses tempos pandêmicos, somos tensionados a pensar novas formas de sociedade, especialmente ligadas à relação com o planeta, o consumo, a concepção de outras cidades, e até uma outra economia. Em que medida o pensamento de Graeber pode iluminar essas reflexões?
Orlando Calheiros – A pandemia escancarou um problema óbvio: que o sistema que vivemos, o capitalismo global, o neoliberalismo etc…, tem um limite. O limite não é apenas a terra, como os liberais colocavam – pensando aqui na oposição entre Terra e Mundo na obra de Arendt –, mas a própria vida como um todo. A vida é o limite do capitalismo, pois o capitalismo opera, avança, consumindo-a. Os mais pobres foram os mais sacrificados pela pandemia, foram eles, seus corpos, sua vida, o que garantiu ao sistema sobreviver quando todos os demais podiam se preservar em seus lares. A pandemia explicitou o óbvio: que o capitalismo é a grande religião sacrificial da nossa hora.
E o que nos leva a isso? O que nos leva a naturalizar esse holocausto em nome dos fluxos do capital? Acho que alguns dos problemas levantados em seu livro Dívida nos oferecem argumentos interessantes para entender como esse processo se tornou global, como ainda persiste.
IHU On-Line – Esses tempos também têm revelado uma série de questões, e até limites, a algumas instituições. Entre elas o próprio saber científico e a academia. Pensando numa ideia de renovação, reavaliações, um pouco mais de anarquismo poderia contribuir com uma oxigenação da academia?
Orlando Calheiros – Como o próprio Graeber demonstrou, não é como se o anarquismo não estivesse ali na academia, ele apenas não estava de forma explícita. Contudo, acho que o anarquismo, a sua essência – que diz mais respeito a uma forma de se relacionar com um problema do que a uma solução específica – pode sim oxigenar a academia. Na medida em que a análise, o engajamento, deveria se comprometer com um aspecto não régio, não estatal. E isso, esse movimento, poderia, por fim, libertar as potências criativas, verdadeiramente criativas da ciência. É assim que vejo, por exemplo, o Une autre science est possible de Isabelle Stengers (e uma série de outros escritos).
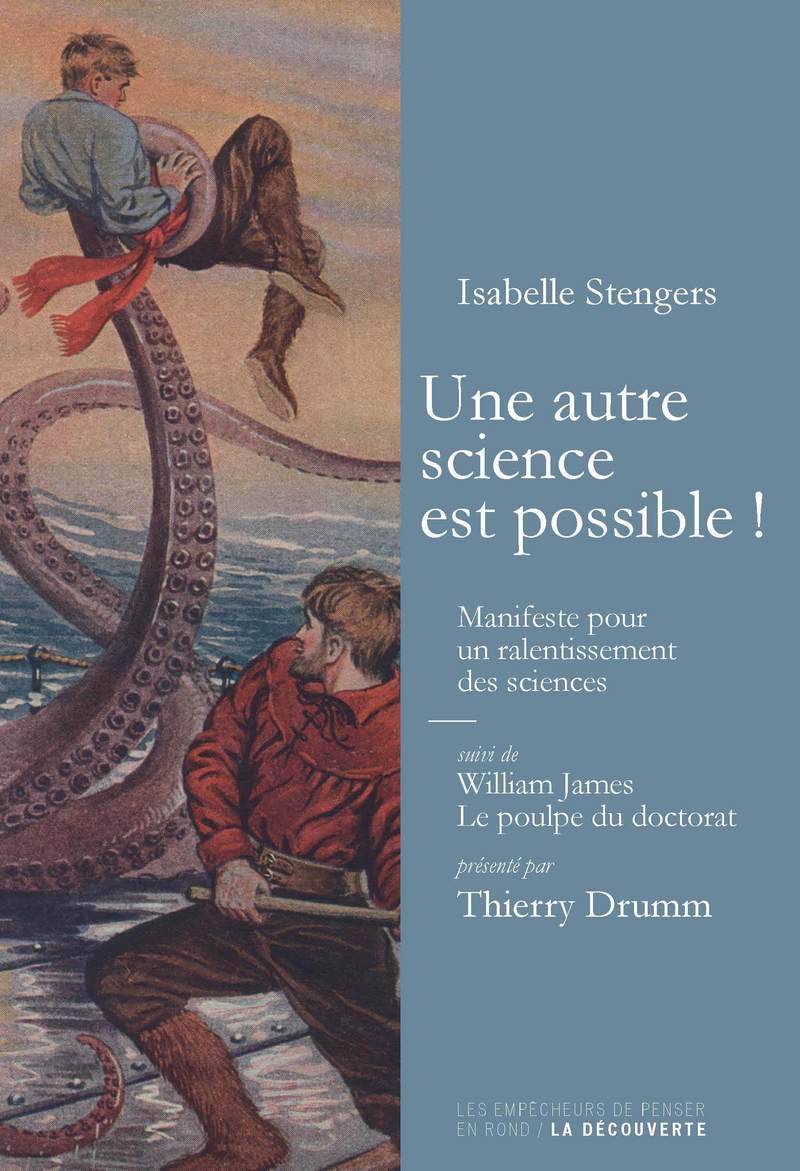
Une autre science est possible de Isabelle Stengers (La Découverte, 2013) | Imagem: divulgação
De fato, quando olhamos para a história da antropologia, foi essa relação da disciplina com certas anarquias que a descolocou e evitou que ela permanecesse como mero apêndice do projeto colonial. O que vale por aqui, vale alhures.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Orlando Calheiros – Gostaria de ressaltar que anarquia não é sinônimo de desordem, de voluntarismo, muito pelo contrário, ela aponta para uma relação não régia com a vida, isto é, busca uma solução não estatal para os problemas. E que o ato de pensar – pensar sobre o pensar – pode e deve ser encarado como um desses “problemas” e, portanto, passível de uma abordagem anarquista.