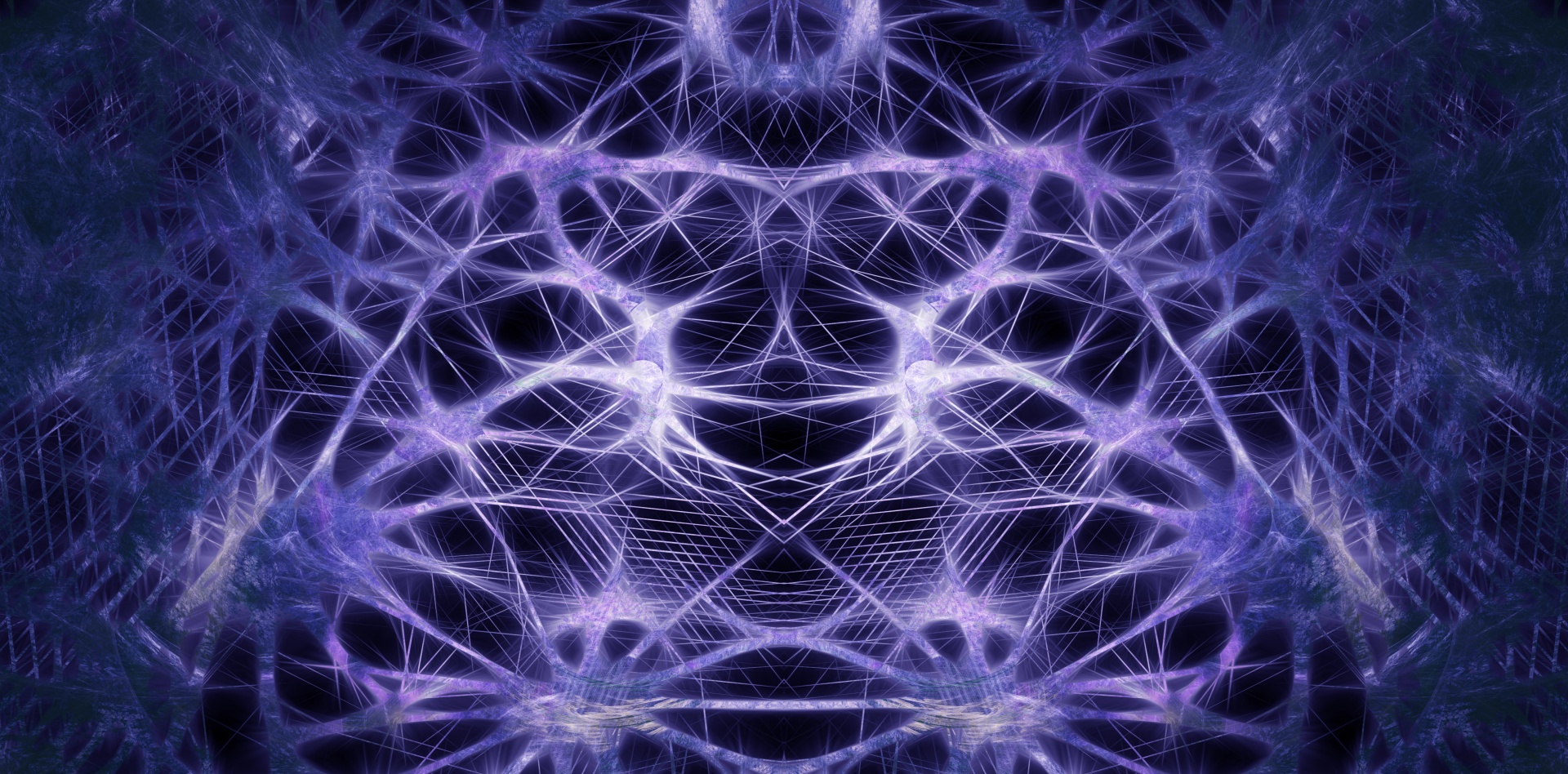14 Agosto 2020
Jornalista especializada em tecnologia e domínio digital e impulsionadora de diversos projetos que buscam a colaboração interdisciplinar na rede, Marta Peirano (Madri, 1975) se tornou conhecida, em 2015, com El pequeño libro rojo del activista en la red, uma obra sobre vigilância e criptografia, com o prólogo de Edward Snowden. Contudo, foi El enemigo conoce el sistema (Debate), um ensaio que aborda os múltiplos perigos que a Internet supõe para o nosso ideal de liberdade, democracia e transparência, que a tornou uma referência nos debates públicos nacionais sobre a tensão entre o indivíduo e as esferas de poder que se cristalizam no mundo virtual. Em meio a tantos trabalhos, encontrou tempo para nos atender por telefone.
A entrevista é de Antonio Lozano, publicada por La Vanguardia, 08-08-2020. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
No centro de seu ensaio está o contraste entre a percepção de que a internet é livre e democrática e a realidade de que seus gestores e usos são obscuros e inclinados à manipulação. Diria que esta espécie de engano coletivo não tinha precedentes históricos, ao menos nesta escala?
A tentativa de transformar a realidade da internet em algo diferente do que é ocorre por meio da linguagem e as imagens adotadas pelas empresas tecnológicas e as teleoperadoras. Suas mensagens publicitárias falam de constelações, de pontos flutuando no céu, de uma nuvem, de conectividade universal, de algo que chega a todos por igual e nada disto existe na realidade.
O precedente mais próximo a semelhante manipulação que me ocorre é o do mundo financeiro. Durante a crise de 2008, as pessoas compraram produtos financeiros de alto risco porque eram chamados de modo estranho, rapidamente, algo compreensível se revestiu de uma linguagem nova e complicada, parecia que era preciso muita especialização para navegá-lo. Com a rede ocorreu o mesmo, foram gerados termos ambíguos para compor uma imagem fictícia.
Eu sempre recorro ao exemplo bem ilustrativo da “nuvem”, que evoca em nossa mente algo que cobre a todos por igual, leve, que está em todas as partes, que é limpo, macio e branco, quando na verdade se trata de uma concentração massiva de servidores monstruosos, em um lugar remoto, e com um consumo energético absurdo, cheios de trancas e com um funcionamento obscuro.
Dentro de nossas possibilidades, que medidas básicas e simples o cidadão comum pode tomar para evitar a submissão ao controle orwelliano da internet?
Em um mundo no qual, muitas vezes, você se vê forçado a ter uma conta de WhatsApp, caso não queira ficar à margem das conversas de grupos em que está envolvido, ou de uma conta bancária online, e no qual não basta não estar no Facebook, pois se um familiar ou um amigo possui uma conta já pode ficar exposto, impõe-se o uso da criptografia e aplicativos seguros.
É preciso fazer um chamado à ação coletiva para convencer as empresas de que utilizem programas mais seguros e praticar um ativismo comunitário, de tribo, exigindo que a administração nos explique como nossos dados são utilizados. Nesse exato momento, inquieta-me que milhares de crianças estejam utilizando o Google Escola para ter acesso ao direito à educação básica ou que todos sejamos obrigados a realizar operações como compras ou gestões bancárias por meio de interfaces, sem ficar claro se nossos dados e padrões de conduta ficam registrados.
No passado, ser motivo de vigilância se associava a possuir algo cobiçado, como informação reservada. Agora, o sujeito anônimo e aparentemente comum é cobiçado. Quando se dá esta mudança de paradigma e como se explica?
O valor do dado da pessoa anônima é um dado que se chama ‘agregado’. Este carece de valor em si, mas quando as empresas começam a mediar a comunicação e as interfaces de uso corrente entre os indivíduos, gera-se muita informação agregada. A informação do indivíduo particular se correlaciona com a dos outros indivíduos desse serviço e os resultados obtidos se correlacionam com os dos outros serviços, gerando estatísticas. Esta coleta de informação complexa ajuda a desenvolver algoritmos preditivos. Foi demonstrado que se você sabe onde uma pessoa esteve por x semanas, pode prever onde estará nos seguintes meses, durante 98% de seu tempo.
Por outro lado, ao se tratar de ferramentas com as quais interagimos constantemente, podem ser introduzidas mudanças que, de repente, afetem milhões de pessoas, o que abre passagem para o seu emprego como ferramentas de experimentação e manipulação social. Em 2012/2013, o Facebook começou a despejar notícias ruins na newsfeed de meio milhão de usuários para comprovar se mudavam de humor, descobrindo que era muito simples deprimir uma pessoa alterando suas fontes de informação.
Recentemente, ergueram-se vozes que temem que a crise do coronavírus reforce a vigilância estatal do indivíduo e acarrete um corte de direitos e liberdades. Até que ponto considera que o alerta se justifica?
O alerta está muito justificado, é importantíssimo que agora estejamos atentos a tais tipos de assuntos. Na Espanha, já foram anunciados decretos e projetos de acompanhamento de mais de 40 milhões de celulares e, além disso, com caráter retroativo. Esquecemos que, na ausência de teste de diagnóstico e com 40% da população assintomática, o valor de cruzar estes dados é nulo.
A implementação de medidas tecnológicas para congelar, em princípio momentaneamente, direitos civis como a livre circulação e comunicação das pessoas, precisa estar muito justificada e em nenhum caso substitui os protocolos de emergência. Devemos exigir que nos expliquem como funcionam, por que são necessárias e quando vão acabar. A história demonstrou que todas as vezes que são implementadas novas tecnologias em um estado de emergência, para, consideremos, vigiar atividades terroristas ou monitorar o curso de um vírus, já não há retorno, uma vez instalada a infraestrutura, costuma ficar.
A circulação de mentiras e meias verdades, assim como as táticas de desinformação, por parte de órgãos de poder, vem de muito longe. As ‘fake news’ que abarcam tantas manchetes, hoje em dia, possuem tonalidades novas que justifiquem o pânico que despertam?
O momento é muito delicado porque a quarentena também afetou as plataformas digitais, cujas equipes de segurança e moderação de conteúdos estão trabalhando de casa. O Google equipou seus trabalhadores com uma rede chamada de “confiança zero”, que faz com que, inclusive quando você está fora do escritório, sua equipe informática esteja protegida, mas é uma exceção. A maioria das empresas que conta com pessoas trabalhando de forma remota não conseguiu evitar o relaxamento nos acessos aos sistemas, o que se traduziu em um aumento de ataques, golpes, operações de fishings, circulação de notícias falsas, de pornografia infantil, de vídeos vexatórios...
Sobre as fake news, o mundo todo está pendente de que a comunidade científica nos ofereça respostas que forçosamente demorarão, e este vazio de informação se enche de desinformação, de ideias paranoicas e acusatórias que são mais satisfatórias do que “será necessário esperar” ou “ainda não sabemos”. O terreno fértil é propício para que grupos políticos, comerciais, de hackers estrangeiros... espalhem medo, caos e polarização com o objetivo de fragilizar as instituições democráticas.
Além de redobrar o rigor que sempre foi necessário, como avalia que o jornalismo deve encarar este contexto de pós-verdade?
Vejo o jornalismo como um dos principais culpados por esta economia das realidades paralelas porque há tempo deixou de dar notícias. Nesse sentido, 80% das capas não são consagradas a notícias, por exemplo, ao se fazer eco de discussões políticas entre indivíduos: X insultou Y e Y avançou contra X, o que aumenta o lixo resultante do melodrama político, quando a notícia de verdade é a que saiu uma lei ou que foram cortadas partes dos orçamentos.
Muitos jornais foram competir com a informação comercial e com a desinformação, nesse grande ecossistema midiático que são as redes sociais, o que é um absurdo, pois as notícias são mais maçantes, ainda que, note, a informação pode sim ser interessante, os melhores jornais são muito fáceis de ler.
No início do livro, fala dos métodos artificiais utilizados por muitas empresas para conferir a seus produtos uma falsa sensação de autenticidade. Como entende esta obsessão pela autenticidade?
Pretenciosidad (Alpha Decay), um ensaio de Dan Fox, argumenta muito bem acerca dos motivos pelos quais nos sentimos tão definidos por nossos gostos e acreditamos que aquilo que consumimos nos torna mais autenticamente nós. Desde os anos 1940, o marketing adotou a linguagem da originalidade. A marca de jeans Levi’s converteu a roupa mais barata em algo especial. Todos os jovens que as exibiam se sentiam paradoxalmente únicos. O que a internet faz é levar isto a uma escala maluca.
Em todas as manifestações de nossa existência digital presumivelmente demonstramos nossa originalidade realizando as mesmas coisas. Por exemplo, no Instagram, são repetidos determinados padrões – fotos do pôr de sol que não deixam de ser postais que uma inteligência artificial executaria melhor – para transformar a vida em uma espécie de publicidade permanente e em um mecanismo de pertença.
Contudo, basta ver como se repete a idêntica decoração dos interiores das casas ofertadas por Airbnb em todo o mundo, ou as cafeterias fofas com as mesmas plantas penduradas e as mesmas fotos com espumas no café com leite que se encontra no Alaska ou em São Paulo, para entender que essa teórica exclusividade não é mais que uma espécie de cidade geral que se sobrepõe, uma franquia conceitual.
Aborda um aspecto muito inquietante da inteligência artificial, ligado à corrida armamentista. Diria que a regulamentação internacional a respeito da inteligência artificial está falhando? Caso siga assim, as tramas da saga “O Exterminador do Futuro” não parecem muito improváveis no horizonte.
Definitivamente, seria necessário controlar muito mais o uso da Inteligência Artificial no âmbito armamentício. A ideia de que existam máquinas de matar autônomas, criadas a partir de bases de dados cheias de preconceitos, o que significa que convertem determinadas raças e religiões em objetivos prioritários, não parece muito legítima.
Em relação ao cenário concebido pelos filmes de O Exterminador do Futuro, conhecido tecnicamente como a “singularidade”, ou seja, esse momento em que as máquinas que criamos começam a aprender muito mais rápido e de forma hiperconectada, até adquirir consciência e nos destruir, reflete que temos uma hierarquia de humanidade que aplicamos amparados no nível de complexidade das pessoas.
Dito de outro modo, dado que ao longo da história fomos capazes de desumanizar os indivíduos para justificar sua aniquilação – por exemplo, os racistas chamando os negros de “macacos”, os nazistas, chamando os judeus de “ratos”, os hutus, chamando os tutsis de “baratas”... –, deduzimos que as máquinas não nos matarão ao aplicar esta mesma lógica, esta escala de inferioridade. Mas, aqui, jaz uma armadilha, porque estes argumentos carecem na realidade de lógica, são falácias que as máquinas não se adaptarão porque não operam assim.
Por motivos essencialmente dramáticos, na representação dos romances e produções cinematográficas sobre o futuro, a distopia triunfou pelo sistema. Fora os avanços médicos, onde deposita suas esperanças acerca do contradiscurso a tudo isto, com as contribuições benéficas da tecnologia a médio e longo prazo?
Penso que quando falamos de tecnologia ou de internet um dos problemas é que na verdade nos referimos a algumas poucas plataformas, aquelas que concentram de 80 a 90% das interações. Isto se vê facilmente nas tarifas 0 de algumas operadoras, que você não paga pelos dados, mas, sim, alguns poucos euros ao mês para ter acesso ao Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter, porque está pagando essas empresas com outras coisas. Estas plataformas obscuras e centralizadas, baseadas em conteúdo alheio e na extração massiva de dados, supõem um problema para a saúde mental, a privacidade, a autonomia, a democracia...
No entanto, existem muitas outras tecnologias que facilitam uma gestão mais rentável ou sustentável de recursos cada vez mais limitados, que permitem que em um momento de isolamento como este sejam geradas redes de ajuda e cooperação entre vizinhos, com tecnologias que empoderam a população. Agora, utilizamos massivamente tecnologias que nos tiram do lugar onde estamos e nos conectam com pessoas remotas, fabricando comunidades imaginárias, unidas pelos gostos, e eliminando assim as relações de proximidade, que são as mais importantes, separando as pessoas de sua comunidade, dos que vivem sua mesma realidade. Todas as tecnologias que operem de forma inversa, que reconectem as pessoas em seu ambiente e com os negócios de proximidade nos ajudarão em um futuro que se apresenta muito difícil.
Em relação ao anterior, quais ficções, clássicas ou recentes, mais lhe interessam e convencem no momento de conceber, para o bem ou para o mal, o futuro tecnológico?
Recomendo muito o filme Contágio, não é uma grande obra de arte, mas foi realizado durante a ressaca da SARS, que poderíamos qualificar como prima mais velha do coronavírus, com a ajuda do Centro de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, justamente para descrever como funciona uma pandemia, de que modo se propaga, que sistemas entram em colapso, etc. Inclusive, aparece o tema da desinformação, embora por se tratar do ano 2003, temos um ‘blogger’ à frente e não a um influencer do Instagram. Gosto porque nos ajuda a entender o que está acontecendo e a ver que as pandemias sempre funcionam da mesma forma, antes e depois da tecnologia.
As séries The Good Wife e seu spin-off The Good Fight me atraíram muito pelo modo como suas tramas refletem os paradoxos apresentados pelo fato de que a tecnologia sempre estará muito à frente da lei. Seduziram-me muito mais que Black Mirror e suas distopias fabricadas para nos assustar.
É cofundadora de ‘Hacks Hakers Berlin’, uma plataforma de colaboração entre jornalistas e hackers. No imaginário coletivo, frequentemente, os hackers gozam de má fama. Quais são os mal-entendidos mais enraizados sobre eles e como entende/defende seu trabalho?
A maior parte das pessoas que trabalham em segurança digital, protegendo-nos de ataques online, são hackers, ou seja, pessoas que utilizam técnicas informáticas para descobrir coisas. Falamos de indivíduos que trabalham com departamentos universitários ou com bancos, para garantir a privacidade das contas de seus clientes, ou com hospitais para evitar o roubo de históricos clínicos. Só em algumas ocasiões, como quando são pagos por governos como o russo ou o iraniano, dedicam-se a espionar e semear o caos. Em definitivo, é preciso diferenciá-los dos cibercriminosos.
Leia mais
- Novo ciclo tecnológico requer que a sociedade repense seu pacto fundador. Entrevista especial com Glauco Arbix
- Na Revolução 4.0, automação ameaçará postos de trabalho mais rapidamente. Entrevista especial com Bruno Ottoni Eloy Vaz
- “A Manufatura 4.0 terá efeitos amplos nos próximos dez anos sobre toda a indústria mundial”. Para o Brasil será mais difícil que a era fordista. Entrevista especial com Marco Antônio Martins da Rocha
- A inteligência artificial e o fim do trabalho. Artigo de Andrea Komlos
- A mutação do mundo do trabalho e a proteção dos trabalhadores - 60% dos empregos serão automatizados. Entrevista especial com Yuri Lima
- A Revolução 4.0 e a reedição das lógicas das revoluções burguesas. Entrevista especial com Gaudêncio Frigotto
- É importante pensar política industrial e competitividade para o Brasil não perder a revolução 4.0
- Robôs estão entre nós. Como viver num mundo sem empregos para todos?
- Indústria brasileira 2.5. O futuro do Brasil no contexto da Revolução 4.0. Entrevista especial com Fábio do Prado
- Automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030
- Robótica eliminará até 800 milhões de empregos até 2030
- 50% do trabalho no Brasil pode ser feito por robô, diz estudo
- O impacto da quarta revolução industrial na sociedade
- Quem são os mais propensos a sofrer com a automação do trabalho?
- Tempos de incerteza: um robô poderia substituir meu trabalho?
- 'Profissões deixam de existir, mas surgem outras', diz consultor
- Indústria instala 1,5 mil robôs por ano
- Seremos líderes ou escravos da Indústria 4.0?
- 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir
- A 4.ª revolução industrial e o futuro do emprego
- Futuro do trabalho diante do desmonte do Estado
- O emprego ameaçado por robôs
- A tecnologia que confina o humano. Entrevista especial com Marildo Menegat
- Você corre risco de perder o emprego para um robô?
- Um guia para compreender a quarta Revolução Industrial
- Desculpe, 2020 não indica que será melhor que 2019
- Revolução tecnológica exige novo Estado social, escreve professora
- Os países mais avançados no uso de robôs são os com menor desemprego
- O trabalho do futuro e a alienação do presente