"O comum nos convoca a olhar para a possibilidade da paz; não uma paz provisória, mas uma paz que seja duradoura entre os povos e as espécies que habitam nosso planeta", diz o pesquisador
Na atualidade, além das guerras e da violência entre os povos, a mudança climática é um indicativo de que a humanidade é uma "catástrofe" e produziu e está produzindo uma "tragédia comum". Essa é uma visão corrente entre alguns pesquisadores que denunciam e advertem para os desafios da humanidade diante dos desastres climáticos em curso. Entretanto, "isso é parte da verdade e da construção ideológica que reproduz e perpetua essa destruição", disse Rodrigo Savazoni, diretor executivo da organização não governamental Instituto Procomum, na conferência virtual intitulada O comum, a guerra e a paz, realizada em 09-06-2022 no Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
Como contraponto aos teóricos que não encontram alternativas políticas, econômicas e sociais diante das sucessivas crises que acometem os países, Savazoni cita a obra da cientista política Elinor Ostrom, prêmio Nobel de Economia em 2009, por causa de suas contribuições teóricas acerca da noção de comum não apenas do ponto de vista teórico, mas baseado em observações de comunidades que, a partir da adesão de "princípios do design do comum", isto é, de um conjunto de recursos comuns que são essenciais à existência humana, propuseram políticas emancipatórias.
Segundo Savazoni, "para a efetivação do comum como possibilidade de produção alternativa e, consequentemente, geração de uma paz duradoura, é preciso fazer a gestão e o uso dos recursos existentes de uma maneira equânime, nessa dupla dinâmica entre o uso e a preservação. Do contrário, já sabemos o que está colocado, o que alguns autores chamaram de a catástrofe do não-comum. Justamente a tragédia do não-comum. É o não-comum que vai produzir e já produziu a tragédia. O comum nos dá e nos faz vislumbrar a chance. E aqui falo do comum como uma filosofia política, como uma lente de percepção da realidade, como enquadramento para uma vida de ação, de deveres, de responsabilidades de uns com os outros, de todos por todos como um projeto". E acrescenta: "Mas não se trata de um projeto para amanhã; mas antes de um projeto imanente, imediato."
A seguir, publicamos a conferência de Savazoni no formato de entrevista.

Rodrigo Savazoni (Foto: BoqNews)
Rodrigo Savazoni é escritor, realizador multimídia, pesquisador e gestor cultural. Jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero, é mestre e doutor em Ciências Humanas na Universidade Federal do ABC - UFABC. Atualmente, é diretor executivo da organização não governamental Instituto Procomum, cuja missão é trabalhar em defesa dos bens comuns. Foi subsecretário de Cultura da cidade de São Paulo. É autor de livros de ficção e teoria, entre eles O Comum entre Nós: da cultura digital à democracia do Século 21.
IHU – Que relação estabelece entre comum, guerra e paz?
Rodrigo Savazoni - Na relação entre o comum e a guerra, é importante também pensarmos a paz, porque esta relação só é possível se for em um processo de mediação em direção à paz. O comum nos convoca a olhar para a possibilidade da paz; não uma paz provisória, mas uma paz que seja duradoura entre os povos e as espécies que habitam nosso planeta.
Para tratar dessa relação, vou partilhar algumas leituras, perplexidades, incertezas, dúvidas e ansiedades. De alguma forma, é preciso fragmentar os elementos para entender o comum, mas vou falar um pouco sobre o que entendo por comum e historicizá-lo à luz de entendê-lo como um chamado essencial a confrontar-se com a forma ou o estado sólido da guerra, que é o constructo neoliberal. Para além de pensar a guerra como a forma que se enuncia ou se apresenta a partir do conflito armado – que é uma forma de expressão da guerra –, proponho pensar esse estado de guerra permanente que é produzido pelo capitalismo na sua idade atual, qual seja, o neoliberalismo, que parece que conhecemos tão bem, mas que sempre se renova e apresenta novas facetas.
Quando me pus a pensar a relação entre comum e guerra e, consequentemente, comum e paz, era necessário propor pensar o comum em antagonismo ao constructo neoliberal que, de alguma forma é uma construção que está associada essencialmente a uma reação muito vinculada à Segunda Guerra Mundial e a um estado que, se não podia se perpetuar pela derrota do eixo naquele momento, pela forma do conflito armado, se perpetua na sua afeição econômica, pela economia. É um sistema de destruição em massa: destruição das instituições, das relações e das comunidades. É uma atualização que busca perpetrar um estado voraz que em outras formas de capitalismo de outros momentos até parece um conto da carochinha.
Quando fui convidado a falar sobre esse estado de guerra bastante vinculado ao momento atual que vivemos, me pus a pensar sobre algumas experiências mais próximas que tive ou tenho com um vento que sopra da guerra. Como eu disse, compartilhando algumas perplexidades e histórias, queria dividir com vocês um momento em que me reencontro com parceiros muito queridos que conformam uma das organizações que mais admiro no Brasil atual, que é o Coletivo Etinerâncias, formado por três pessoas muito especiais para mim: Gabriel Kieling, Raissa Capasso e Débora Del Guerra. Recentemente, nos reencontramos em Santos, onde vivo, eles vindo do sul da Bahia e de Belo Horizonte, do assentamento Terra Vista, uma região onde a guerra se instaurou com a chegada dos colonizadores e de lá nunca mais saiu. Nessa vinda para Santos, eles trouxeram consigo um livro que acabou de ser publicado, chamado A escola da Reconquista, escrito pela Maria José Muniz Andrade Ribeiro, mestra Mayá.
Etinerâncias | Uma História em Movimento

(Foto: Reprodução)
O livro conta a história da vida dessa educadora indígena do povo tupinambá no início dos anos 1980, no contexto ou na transição da ditadura militar [para a democracia] – inacabada e malfeita, cujos ecos se fazem sentir até hoje em instituições absurdas como a Polícia Militar, algumas empresas de radiodifusão e o exército regular brasileiro, que tenta comandar o país por intermédio dessa figura que assumiu a presidência alguns anos atrás. Mestra Mayá é uma educadora que, junto com pessoas do seu povo, foi responsável por fazer a retomada das terras indígenas dos tupinambás – foram mais de 300 terras retomadas –, que fazem parte daquilo que é um dos grandes estoques da dívida impagável, como diz Denise Ferreira da Silva. A filósofa brasileira que vive na América do Norte - cuja obra praticamente foi produzida em inglês, mas tem um livro intitulado Dívida Impagável - trata justamente de uma das feições mais características do capitalismo: a desapropriação das terras dos povos originários no processo de colonização, que se soma ao sequestro do trabalho e dos corpos dos africanos transportados para o mesmo interior da Bahia. Hoje, todos esses seres humanos expropriados de suas terras, seu trabalho e povos, se juntam em uma organização que é um vetor de esperança no nosso país, a Teia dos Povos.
Mestra Mayá narra nesse livro a guerra constantemente empregada, permanente, contra os povos que ousam confrontar as estruturas do sistema econômico organizado como um estado de guerra permanente contra a humanidade. Esse sistema também produz a própria potência da destruição da humanidade – porque é disso que se trata o capitaloceno, a crise climática e essa era geológica em que estamos, que foi produzida por um determinado sistema econômico produzido por alguns seres humanos, esses que temos que enfrentar e que esses povos liderados por pessoas como Mayá enfrentam. Em certa altura do livro, ela diz: “Temos que aprender a ser humildes, amar mais, considerar e respeitar, senão, não vamos chegar lá porque a guerra está aí e ela é mundial. Veja que a guerra é mundial, mas está todo mundo dentro de suas casas. E quem está lá em Brasília, brigando? Os indígenas. A pandemia não está empatando os indígenas de guerrear. Quem está na beira das pistas guerreando? Os indígenas. Então, a guerra mundial está para quem? Para os indígenas defenderem. Na semana passada fiz a reunião com um grupo de jovens que está na frente das atividades e disse para eles que ou aprendem a respeitar os seres espirituais dentro de nossos encantados, em nossas comunidades, ou vão se encontrar em situações difíceis. Vão só pisar no massapé e escorregar.”
Mayá conta nesse livro uma cena em que ela, sozinha, é cercada por um bando de jagunços a mando dos fazendeiros locais, que param o ônibus em que ela se encontra, se juntando para executá-la. Diante dessa situação, com o apoio de uma pessoa que encontra no ônibus, ela enfrenta todos esses homens e começa a cantar e, ao cantar e entoar os cânticos sagrados e ao se conectar com esses encantados que agem por meio dela e com ela em um continuum, ela consegue se salvar e continuar sua trajetória de vida porque sabia que tinha uma missão a cumprir.
Se evoco Mayá para tratar da guerra é justamente por causa do que ela diz: a guerra é mundial, permanente e constante; é a forma que o neoliberalismo atua. A guerra, na forma de disputa por uma hegemonia global, envolvendo Rússia e Ucrânia, é a guerra atualizada na sua dimensão econômica, o neoliberalismo. É diante dessa constatação que se edifica – ou que precisa se edificar - a filosofia política do comum se quisermos pensá-lo como algo na direção de uma construção do comum como um verbo de ação, como reflexo da prática de fazer o comum, que vem de uma expressão bastante usada por alguns historiadores marxistas. O comum está o tempo todo sendo feito; é um processo permanente de produção na tentativa de se organizar uma alternativa perante as formas de produzir que caracterizam o sistema hegemônico do neoliberalismo. É justamente para olhar para isso que o comum se enuncia e, consequentemente, apresenta aquilo que é a chance de observarmos que é a partir da unidade das comunidades que talvez exista – coloco como dúvida, porque é uma dúvida, mas também uma aposta – o comum. Talvez, as comunidades em ação, autogovernadas, possam enfrentar esse sistema de morte e, consequentemente, produzir a paz.
O comum, a guerra e a paz
IHU – Pode mencionar exemplos de como o comum tem sido objeto de algumas comunidades e povos?
Rodrigo Savazoni - Há alguns anos eu tive o prazer de ser mentor de um laboratório na província de Pasto, na Colômbia, na região mais afetada pelo histórico conflito entre as guerrilhas, o narcotráfico, a população local e os camponeses. Esse é o mais longo e permanente conflito e levante armado que ainda vigora, porque os colombianos, embora tenham construído de forma brilhante um acordo de paz, passaram a ter presidentes que refutaram essa conquista. O laboratório era sobre inovação cidadã, uma das linhas de atuação com a qual me envolvo há algum tempo, e tinha como objetivo pensar tecnologias para a paz em territórios que viviam uma situação de pós-conflito armado.
Cultivando a paz na Colômbia
Como se instaura a paz a partir dos territórios das comunidades depois de longos anos de conflito? Como construir alternativas reais para um território rural que é uma região que vai do Pacífico à Amazônia, passando pelos Andes, numa região afro-colombiana, com forte presença indígena, em um ambiente onde se instauraram os narcotraficantes? Essa é uma região muito favorável à exportação e à distribuição da droga e aí tem uma questão central de como trabalhar a substituição dos cultivos da papoula e da folha de coca, que são tradicionais, mas, ao mesmo tempo, são usadas como base para a produção de drogas proibidas, embora altamente consumidas e difundidas pelos países do capitalismo do norte.
Nesse laboratório, me vi conversando com Dom Hector, um camponês que vive perto da lagoa. Ele me deu uma aula sobre os desafios para que as comunidades pudessem se levantar e tentar ser protagonistas da construção da paz posterior ao conflito. Era um camponês que já tinha vivido como trabalhador urbano, trabalhando na construção civil em várias cidades da Colômbia, mas há dez anos tinha regressado para sua propriedade, onde vivia com dois irmãos e a mãe e buscava produzir um lugar próspero. Ele era uma liderança naquela comunidade e me contava sobre o desafio de enfrentar o estado de guerra que se manifestava – e este é o ponto – contra o comum, nesta máquina de reprodução do capital que envolve as disputas de poder, a exclusão sistêmica e a própria produção dos mercados paralelos que alimentam as máquinas centrais. Tudo isso oprimia as pessoas que estavam naquelas comunidades e tentavam sobreviver com suas tradições. O mais bonito é que ali estávamos pensando em como construir alianças, organizações e instituições na possiblidade de somarmos uns aos outros na construção do fortalecimento dessas alternativas a partir de tecnologias que brotam de baixo para cima, das relações, das pessoas, em busca de preservar o planeta e as nossas vidas.
Lembro de Mayá e Dom Hector porque são os comuneros nessa tentativa de juntar diferentes conhecimentos para produzir o comum e, consequentemente, um estado que possa nos dar a chance de viver em paz ou nos fazer sonhar com essa possibilidade, embora seja tão difícil.
IHU – Teoricamente, como fundamenta o conceito de comum?
Rodrigo Savazoni - Tudo isso está vinculado a duas ideias, dois marcos teóricos importantes. Um é a partir da contribuição de Denise Ferreira da Silva para pensarmos os desafios colocados para a produção da paz a partir do comum em oposição à guerra permanente. O conceito que Denise trabalha nessa percepção é o da “dívida impagável”, a dívida histórica do colonialismo, a dívida histórica do sequestro do trabalho vivo e dos corpos da escravidão, atualizado nas mais profundas formas de desigualdades, o sequestro dos territórios e das terras, dos povos originários, também atualizado de diversas formas. Uma delas é o próprio sumiço de quem confronta e tenta enfrentar os conflitos que passam pela expressão do necropoder que é estimulado pelo governo atual. Denise também usa o conceito de “violência total” como forma permanente – e o interessante na obra dela é a demonstração de que isso está absolutamente vinculado à filosofia moderna. A filosofia dela, dialogando com a obra de Hegel, Kant e Descartes, mostra que esse é um constructo da filosofia que lastreia as instituições do mundo contemporâneo, ou seja, nasce vinculado estruturalmente a esse modelo e marco opressivo que resulta na colônia e que é levado à última consequência como se estivéssemos diante daquela máquina monstruosa de moer corpos e a existência humana.
Ela diz que é preciso propor o fim do mundo tal como o conhecemos. Isso foi base para uma curadoria que fizemos no Instituto Procomum, com a publicação de “(DES)fazenda: o fim do mundo como o conhecemos”. Trata-se de uma proposição para olharmos para a força de destruição que abre espaço para que possamos pensar uma construção efetivamente outra para o futuro.
(DES)fazenda: o fim do mundo como o conhecemos
Quero circunscrever a noção de guerra que estou tentando propor aqui: a guerra como um estado permanente, contínuo, de destruição, que caracteriza o neoliberalismo. Qualquer projeto que queira confrontar esse modelo e ser emancipatório precisa falar sobre isso de forma explicita e agir justamente nas engrenagens que operam para fazer isso permanentemente se reproduzir – o que não vejo muitas vezes nas proposições vindas dos campos do que convencionamos chamar de esquerda.
Para chegar no debate sobre comum é importante observar que uma das formas de cristalização do pensamento que lastreia a construção das instituições e organizações que validam o modelo neoliberal se dá em 1968, com a publicação de um artigo intitulado “A tragédia dos comuns”, de Garrett Hardin, biólogo evolucionista. Esse texto foi altamente utilizado porque baliza uma série de políticas e é uma peça ideológica que permite a afirmação do neoliberalismo baseado na ideia de que os seres humanos, diante da ocupação dos bens comuns, vão produzir a tragédia.
Tragédia dos comuns
Ele usa a metáfora do pasto de ovelhas: um grupo de pessoas tem um pasto e cada pastor, com sua ovelha, mostra como somos autointeressados, competimos entre nós e somos vorazes na busca pela maximização dos nossos ganhos. Isso faz com que cada um queira colocar mais e mais ovelhas no pasto, de tal modo que elas vão exaurir o pasto e o que temos ao final é a tragédia do comum. Ou seja, a destruição daqueles bens que são essenciais para nossa própria vida. Podemos olhar para a atualidade e pensar sobre o que está acontecendo no planeta a partir da emergência climática e dar razão à teoria dele: nós somos uma catástrofe e produzimos a tragédia do comum. Mas isso é parte da verdade e da construção ideológica que reproduz e perpetua essa destruição. Justamente em confronto a isso, perguntando se é isso mesmo, se estrutura uma das mais importantes obras contemporâneas na atualização do que é o pensamento contemporâneo sobre o que é o comum, a obra de Elinor Ostrom, uma cientista política laureada com o prêmio Nobel de Economia em 2009. A obra dela, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990), foi recuperada pelos economistas depois da crise de 2008. Nesse livro, ela mostra como a gestão comum dos bens em várias comunidades é mais eficiente do que a gestão privada ou diretamente estatal no que se refere à eficiência, à utilização do bem, mas também a sua preservação, que é um fator geralmente não considerado pela economia tradicional.
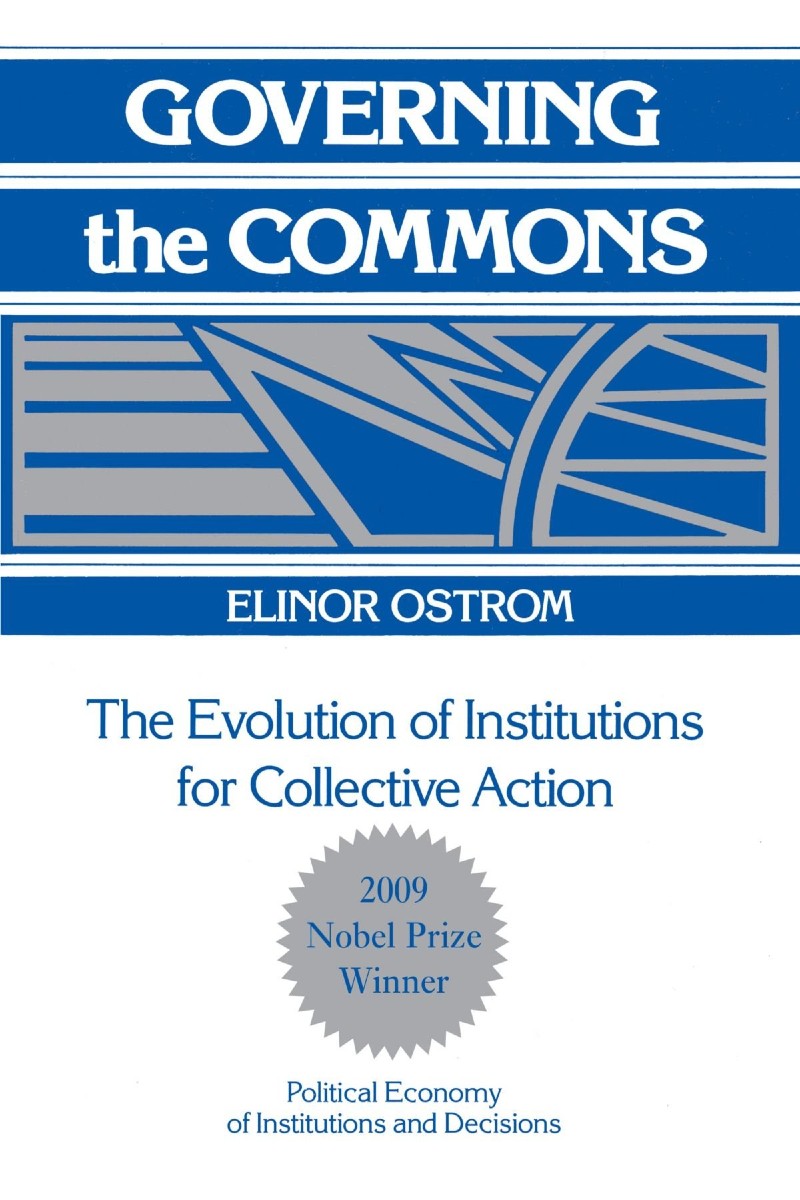
Nesse sentido, ela faz uma proposição do comum – e é importante dizer – partindo de uma análise empírica, do olhar sobre coisas que deram e dão certo e que estão acontecendo no mundo aqui e agora, tal como ele é. Não estamos falando de uma idealização e de um lugar aonde devemos chegar. Ela analisa inúmeras situações e aquilo que se dá no interior das comunidades que gerem e usam os bens e, ao fazer isso, consegue sintetizar esse conhecimento para demonstrar quais são os modelos que funcionam a partir do que ela chama de princípios do design do comum, dos conjuntos de recursos comuns que são essenciais à existência humana. Ela demonstra que esse modelo é mais eficaz e nisto reside um desafio que está colocado para pensar uma política emancipatória: a construção de instituições e organizações que fortaleçam o comum para fazer uma real oposição ao neoliberalismo.
Nesse sentido, ela faz uma proposição do comum – e é importante dizer – partindo de uma análise empírica, do olhar sobre coisas que deram e dão certo e que estão acontecendo no mundo aqui e agora, tal como ele é. Não estamos falando de uma idealização e de um lugar aonde devemos chegar. Ela analisa inúmeras situações e aquilo que se dá no interior das comunidades que gerem e usam os bens e, ao fazer isso, consegue sintetizar esse conhecimento para demonstrar quais são os modelos que funcionam a partir do que ela chama de princípios do design do comum, dos conjuntos de recursos comuns que são essenciais à existência humana. Ela demonstra que esse modelo é mais eficaz e nisto reside um desafio que está colocado para pensar uma política emancipatória: a construção de instituições e organizações que fortaleçam o comum para fazer uma real oposição ao neoliberalismo.
Para isso, é preciso destruir o ordenamento tal como está posto dentro da sua maquinaria ideológica, filosófica e operacional porque ela impede a realização do comum ao afirmar outras formas de gestão, qual seja, as privadas, as da propriedade, mas também as do Estado que serve à propriedade na aliança nefasta que caracteriza o mundo como ele é governado, fazendo com que tenhamos essa democracia falaciosa em vigor. Para a efetivação do comum como possibilidade de produção alternativa e, consequentemente, geração de uma paz duradoura, é preciso fazer a gestão e o uso dos recursos existentes de uma maneira equânime, nessa dupla dinâmica entre o uso e a preservação. Do contrário, já sabemos o que está colocado, o que alguns autores chamaram de a catástrofe do não-comum. Justamente a tragédia do não-comum. É o não-comum que vai produzir e já produziu a tragédia. O comum nos dá e nos faz vislumbrar a chance. E aqui falo do comum como uma filosofia política, como uma lente de percepção da realidade, como enquadramento para uma vida de ação, de deveres, de responsabilidades de uns com os outros, de todos por todos como um projeto.
Mas não se trata de um projeto para amanhã; é antes um projeto imanente, imediato, que está nas longas jornadas de luta da mestra Mayá, que segue segurando o céu por nós, e de Dom Hector. É com a construção comunera que o comum se faz; é verbo e ação em direção à paz, em direção a uma possibilidade de construção da paz. De uma paz duradoura que só virá a partir do fortalecimento das comunidades humanas que se colocarem a serviço desse processo.