Desde a teologia política, professor analisa a conjuntura que temos vivido e provoca a pensar outras teologias políticas que não de tradição judaico-cristãs
Mesmo quem não frequenta qualquer tipo de templo já deve ter ouvido que fé não se mede, ou se tem, ou não se tem. No entanto, numa rápida zapeada pela propaganda eleitoral gratuita, temos a impressão de que os dois principais líderes das pesquisas na corrida ao Planalto estão dispostos a quebrar o ditado popular. Talvez não para mensurar a fé, mas sim a adesão de crentes ao seu projeto político-eleitoral. Ou seja, se nas eleições de 2018 o espaço da religião foi território de disputas, em 2022 a religião parece ter sido feita de trincheira para uma guerra eleitoral.
Os riscos, como observa o professor Ricardo Evandro Martins, para além de ver a eleição como uma guerra, é de sair dessa belicosa disputa através de um messianismo político. “Experienciamos um momento de verdadeira expressão de um messianismo político, construído sobre um imaginário escatológico, em que há um adversário a ser combatido, um anticristo, com sua falsa imagem de salvador das moralidades pública e privada”, destaca, na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
Martins ainda observa a centralidade que as religiões cristãs assumiram, especialmente a ala evangélica, mas sem desconsiderar o peso do catolicismo. E, para tanto, retoma a perspectiva do cristofascismo, trabalhado por Fábio Py, para delimitar o enfoque que é dado desde a vitória de Jair Bolsonaro na última eleição. Isso porque fala “de um cristofascismo especificamente brasileiro: conexão política entre as corporações cristãs brasileiras com Bolsonaro, a fim de construir signos cristãos de ódio contra as minorias, professores etc. a partir de fundamentalismo religioso”.
No entanto, ao estilo da teologia política de Agamben, o professor Martins convida a pensarmos em saídas para o estado das coisas. Uma delas é não reduzir o espaço da religião ao conservadorismo ou mesmo o fascismo. “É nosso dever pensarmos numa religiosidade a qual queria chamar, em vez de progressista, de antifascista. Mas com cuidado para também não reduzir a religião à política, tampouco fingir que religião nada tem a ver com política”, aponta. E, para isso, indica que lembremos “que há dialética entre teologia e política, mas também entre religião e política” e, além disso, não esquecer de “seus limites, dos usos dos argumentos religiosos no espaço público, da conveniência destes argumentos em debates que interessam movimentos sociais não religiosos”.
Numa outra frente, sua sugestão é que pensemos até mesmo numa teologia política enquanto orientação teórico metodológica para ver o mundo desde outros lugares que não apenas do ocidente cristão. “É preciso estar atento, então, a essas outras formas de pensar a teologia política, de povos que vivenciaram e vivencias o apocalipse de suas terras e etnias, e que possam imaginar outros institutos jurídicos e políticos, diferentes das categorias greco-romanas, judaico-cristãs ou da modernidade pós-1789”, sinaliza.

Ricardo Evandro Santos Martins (Foto: Arquivo pessoal)
Ricardo Evandro Santos Martins é professor Adjunto da Universidade Federal do Pará – UFPA e docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPA.
Possui doutorado em Direito, também pela UFPA. É membro do GT de Filosofia Hermenêutica da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia-ANPOF.
Sua pesquisa de mestrado se desenvolveu especialmente sobre as relações entre Teoria pura do direito e Neokantismo (Hans Kelsen e Heinrich Rickert). No doutorado, sua pesquisa versou sobre a Epistemologia das Ciências do Direito e Hermenêutica filosófica (Hans-Georg Gadamer).
Atualmente coordena o Grupo de Pesquisa "Direitos humanos e Teologia política: Neoliberalismo, forma-de-vida e insurreição do uso" e integra o Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos sobre as Normalizações Violentas das Vidas na Amazônia-CESIP-Margear.
IHU – Que leitura o senhor faz da conjuntura atual a partir da teologia política?
Ricardo Evandro Martins – Antes de tudo, é importante definir teologia política. Trata-se de um modo de interpretação e de análise nada novo. Basta lembrar o trabalho do Spinoza, com o seu Tratado teológico-político (1670), e o do texto clássico do jurista alemão Carl Schmitt, Teologia política (1922). Na obra, o jurista oferece um caminho para se compreender a abordagem teológico-política, que é a tese de que todos os conceitos da teoria moderna do estado são conceitos teológicos secularizados.
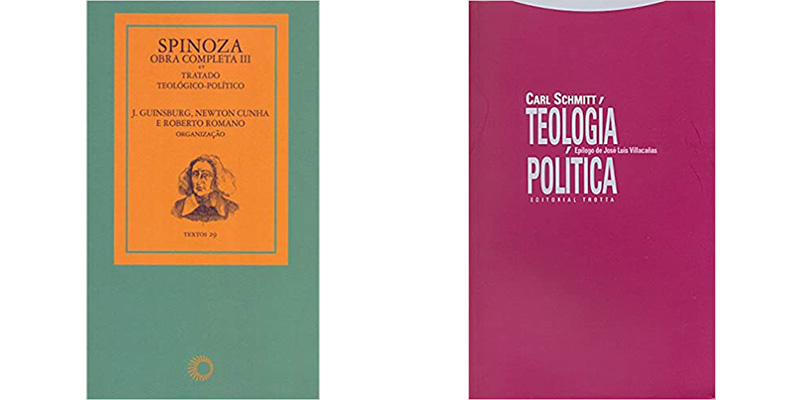
Tratado teológico-político, de Spinoza em edição de 2019 (Perspectiva) e Teologia política, de Carl Schmitt, em edição de 2009 (Editorial Trotta) | Imagens: divulgação
O sentido disto seria o de que os conceitos, não apenas políticos, mas também jurídicos modernos, como soberania, estado de exceção, separação de poderes etc., são conceitos advindos dos debates entre teólogos sobre o poder divino na Terra. Schmitt chegou até dar um exemplo interessante, ainda que em termos jurídicos, de que a teoria da exceção – referindo-se ao estado de exceção – é análoga, na teoria do direito, ao milagre na teologia – no sentido de ser um acontecimento fora da normalidade da ordem jurídica.
No entanto, gostaria de escapar dessa concepção clássica de teologia política feita por Schmitt. O filósofo italiano Massimo Cacciari pode nos oferecer uma outra leitura. A relação entre conceitos jurídico-políticos e conceitos teológicos não seria tão simples assim, como se os conceitos debatidos na filosofia e ciência política, bem como na teoria do direito, fossem meras heranças niilistas de debates medievais. Segundo Cacciari, no seu O poder que freia (2013), a relação entre política e teologia não é linear. Isto pode significar que nossos conceitos políticos e jurídicos não são apenas conceitos teológicos secularizados, mas que há conceitos teológicos e, também, religiosos que são do mundo político, secular.

O poder que freia, de Cacciari, em edição de 2020
Editora Âyiné | Imagem: divulgação
Talvez um exemplo famoso deste fato esteja na Genealogia da moral (1887), quando Nietzsche encontra, em sua investigação genealógica, que o fundamento da noção de culpa moral – que se reflete também na culpa de moral religiosa –, bem como da noção de sacralidade do dever, estaria na esfera das obrigações jurídicas, na relação jurídica da dívida.
Posso dizer, então, que leio a atual conjuntura a partir dessa concepção de teologia política: os conceitos com os quais operamos e as instituições políticas e jurídicas que nos afetam podem ser melhormente compreendidos se entendermos a dialética que possuem com a tradição teológica. Mas posso acrescentar mais definições à esta concepção de teologia política: trata-se de um ramo dos estudos teológicos que investiga tal dinâmica entre o religioso e o secular, mas de modo jamais aprisionado pela dogmática de alguma religião, pois se trata de disciplina participante do pensamento filosófico, crítico, capaz até, ouso dizer, de contribuir para uma ontologia da atualidade.
Sobre este acréscimo à concepção de teologia política, recorro a um texto da Profa. Jeannie-Marie Gagnebin, Teologia e messianismo no pensamento de Walter Benjamin (1999), quando busca logo fazer uma distinção entre os paradigmas da teologia e da religião nos ensaios do filósofo alemão (Benjamin).


Jeannie-Marie Gagnebin
Foto: Unifesp
Lembrando que Benjamin é legatário não apenas de Nietzsche, mas também dos textos dos neokantianos, como o de Weber, sobre a relação entre capitalismo e protestantismo, e como o de Simmel, sobre a noção de culto. Gagnebin explica como Benjamin tem a teologia como aquela figura “pequena e feia”, ao fundo da máquina-autômato, mas que é indispensável, funcionando como o “mata-borrão” de seu pensamento, servindo como um tipo de raciocínio capaz de mostrar os limites da linguagem humana, não dando acalento às angústias das perguntas humanas fundamentais – como o faz a religião –, mas o contrário, abalando os sistemas lógicos e políticos dos discursos contemporâneos.
Assim, enquanto a religião seria um conjunto de procedimentos ritualísticos, fundado em noções dogmáticas, a teologia revelaria os limites do conhecimento humano do seu acesso ao transcendente, ao ser, buscando resolver o antagonismo entre profano e sagrado. Mas não apenas isto: Gagnebin ensina que a teologia pode servir de antídoto contra, por exemplo, a ideologia do progresso histórico – ou, como no caso brasileiro, do “desenvolvimento” –, que vê no fascismo um acontecimento histórico acidental, incapaz de deter o curso deste mesmo progresso histórico, bem como pode servir como antídoto para as pretensões das forças de esquerda de se tornarem uma religião.
Dito tudo isso, só agora posso dizer qual é minha leitura de conjuntura a partir da teologia política. E a primeira coisa a ser dita é que minha leitura da atual conjuntura política se aproxima da recepção que o Fábio Py tem feito do conceito de cristofascismo, desenvolvido originalmente pela teóloga alemã Dorothee Soelle. No seu livro Pandemia cristofascista (2020), Py utiliza o conceito que dá nome à obra para ler nossa atual situação sob o governo Bolsonaro, levando-o a falar de um cristofascismo especificamente brasileiro: conexão política entre as corporações cristãs brasileiras com Bolsonaro, a fim de construir signos cristãos de ódio contra as minorias, professores etc. a partir de fundamentalismo religioso.
Mas não apenas isto. Experienciamos um momento de verdadeira expressão de um messianismo político, construído sobre um imaginário escatológico, em que há um adversário a ser combatido, um anticristo, com sua falsa imagem de salvador das moralidades pública e privada.
Esse é o momento do nosso país, resultante de um projeto político que se utilizou da religiosidade cristã pentecostal para enfraquecer e diminuir a influência dos cristãos progressistas na América Latina, desde pelo menos a Ditadura Civil-Militar brasileira. E estes signos cristãos fundamentalistas operam não apenas com conceitos teológico-políticos, mas também teológico-econômicos. Pois nossa experiência latino-americana é marcada não só pelo autoritarismo militar-estatal, mas também pela sua fusão com o setor empresarial, fundamentados pelo neoliberalismo – visto, também, como uma religião. Como disse o filósofo italiano Giorgio Agamben, certa vez, inspirado no texto de Benjamin, Capitalismo como religião (1921): “Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro.” Sendo assim, bancos e shoppings são templos do ídolo financeiro: o Dinheiro.
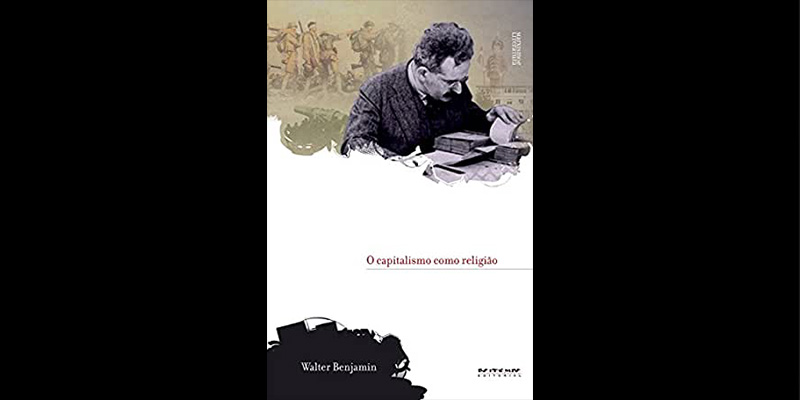
O Capitalismo como Religião, de Benjamin, em edição de 2013 (Boitempo) | Imagem: divulgação
E quanto ao contexto mundial, nosso tempo não poderia ser mais escatológico. Estamos num ponto da história em que o medo medieval da peste, o medo do apocalipse nuclear do tempo da Guerra Fria – que não se encerrou – e o medo do desastre ecológico, que ganhou uma maior popularidade após a queda do Muro de Berlim, estão unidos nesta segunda década do século XXI. Pandemia, a tensão crescente entre OTAN, Rússia, China e EUA, e o já irrecuperável desastre do Antropoceno colocam a humanidade sob uma temporalidade terminal. O tempo atual, “que se encurtou”, como diz São Paulo, pode ser lido pela categoria do eschaton, e os mecanismos que tentam atrasar a salvação podem ser lidos pelas lentes teológico-políticas.
Resta saber se haverá possibilidade de uma “restauração” e se ela virá por meio do freio do progresso histórico, causado por via revolucionária-libertária das classes mais oprimidas, ou se o atraso que frena o fim se dará pela manutenção do autoritarismo neofascista, rearranjado com o neoliberalismo e outras formas de autoritarismo, que associam setor público e privado, junto com imperialismo.
Por fim, não poderia esquecer de dizer que também há outras possibilidades teológico-políticas que não sejam as da tradição judaico-cristãs. Uma saída possível também poderia se pensada a partir da teologia política, mas desde outras categorias, como as das teologias afroameríndias. A escatologia que vivemos no Brasil e no mundo já foi experimentada, e continua em marcha, como colonialismo.
É preciso estar atento, então, a estas outras formas de pensar a teologia política, de povos que vivenciaram e vivenciam o apocalipse de suas terras e etnias, e que possam imaginar outros institutos jurídicos e políticos, diferentes das categorias greco-romanas, judaico-cristãs ou da modernidade pós-1789 – imaginar saídas por meio dos estudos, por exemplo, do antropólogo Pierre Clastres, interessado nas formas políticas sem estado dos povos indígenas da Amazônia, ou mesmo a partir da filosofia de Ailton Krenak e a visão da catástrofe colonial brasileira por Davi Kopenawa.
IHU – Como compreendes a ideia de Direitos Humanos? Em que medida Direitos Humanos também podem ser compreendidos como disputas teológico-políticas?
Ricardo Evandro Martins – A ideia de se ter um direito, de que ter direito a algo, ou mesmo a ideia de dignidade, são, historicamente, teológico-políticas ou, se quiser, teológico-jurídicas. Só para se saber, a ideia de se ter um direito ligado à uma pessoa vem do que ficou conhecido como Querela da Pobreza. Isto está bem relatado pelo famoso historiador do direito, Michel Villey, mas também pelo filósofo Alfredo Culleton, objeto de discussão mesmo entre os juristas da teoria crítica do Direito, como Cristophe Menke e Brian Tierney.
Ainda que seja uma tarefa difícil, posso tentar resumir essa discussão, explicando que a ideia de que se pode ter um direito que não tenha a ver com a noção de mais tradicional de direito, isto é, de equidade entre bens, teria surgido, na defesa dos frades menores por Ockham contra os ataques do Papa João XXII, no século XIII, com o desenvolvimento da ideia de direito subjetivo. Em La formation de la pensée juridique moderne (1968), Villey explica que Ockham foi quem desenvolveu a noção de direito natural como direito subjetivo enquanto possibilidade, faculdade, liberdade fundada em uma vontade divina revelada, como está em Gênesis 1:29,30 – ou, simplesmente, o direito subjetivo de “uso de fato” das propriedades, sem que se possa considerar proprietário, uma vez que a Regula de São Francisco proibia esta possibilidade jurídica e estaria fundado na reta razão.
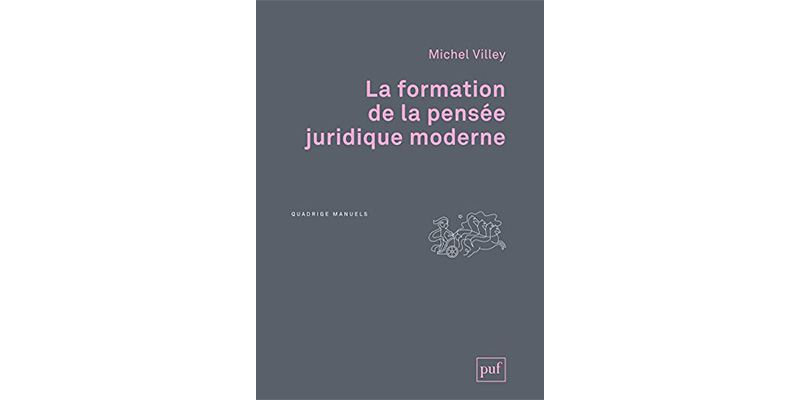
La formation de la pensée juridique moderne, de Villey, em edição francesa de 2018 (Presses Universitaires de France)
Imagem: divulgação
Contemporaneamente, o debate sobre os direitos indígenas, as polêmicas de biodireito, ou mesmo os direitos das mulheres, por exemplo, podem ser lidos de modo teológico-político. Vou dar um exemplo só: a discussão sobre o marco temporal, quanto à demarcação de terras indígenas, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A disputa jurídica está em se saber se serão consideradas como terras indígenas somente aquelas que já estavam ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 1988, ou se poderão também ser consideradas como terras indígenas aquelas que podem vir a ser consideradas tradicionalmente pertencentes aos povos originários, mesmo após a validação da Carta constitucional, no caso, por exemplo, de povos que retornaram às suas terras, arqueologicamente comprovadas que eram de ocupação deles.
Esta só aparentemente se trata de uma disputa meramente de hermenêutica constitucional. Pois, em verdade, trata-se de um debate com quase 500 anos; e um debate teológico-político e teológico-jurídico. Falo, aqui, do texto do padre dominicano Francisco de Vitória, Relectiones: sobre os índios e sobre o poder civil (1539), em que se discute a possibilidade de apropriação de terras indígenas por duas vias: guerra justa ou por ocupação de terras ainda não ocupadas. E a dimensão teológica não está somente na vocação religiosa de Vitória, mas nas discussões sobre a legitimidade da ocupação dos bens criados por Deus, pelos pagãos; discussão sobre o meio legítimo de conseguir terras via guerra; e em qual medida tal guerra poder ser considerada “justa”.
Tais discussões envolvem teologia, mas também direito, política. E acredito que elas podem estar presas a uma cosmovisão ainda ligada aos conceitos teológico-políticos que remontam a Vitória, e também presas aos ideais da social-democracia da Constituição de 1988, quando poderiam, possivelmente, e isto seria desejável, ter outras categorias teológico-políticas, como, por exemplo, a da tradição indígena da comunidade Xákmok Kásek, num caso jurídico no Paraguai, quando se invocou a noção de personalidade jurídica coletiva enquanto modo de traduzir em termos jurídico-políticos a própria compreensão cosmológica desse povo.
Assim, temos o desafio de tentar entender a possibilidade de se ler a atual conjuntura por meio de uma teologia política por ser melhor desenvolvida, desamarrada das categorias europeias, greco-romanas, judaico-cristãs. Será que só a tradição europeia é capaz de realizar uma interpretação teológico-política? Então se trataria de uma ciência essencialmente europeia? Ou será que se poderia partir de concepções teológicas outras, não só indígenas, mas afroameríndias, ainda mais quando se quer entender casos que envolvem povos não-brancos no Brasil?
IHU – Em suas pesquisas, o conceito de “forma-de-vida”, segundo Agamben, é central. Gostaria que apresentasse brevemente sua percepção sobre o conceito e detalhasse de que forma-de-vida humana ocidental no século XXI estamos tratando?
Ricardo Evandro Martins – A ideia de forma-de-vida, escrita deste modo, como um sintagma, aparece nos seguintes textos de Agamben: Meios em fins (1996), Altíssima pobreza (2015) e Uso dos corpos (2017). Neles, o filósofo italiano está desenvolvendo a ideia de que a vida nua, isto é, a vida que está em indistinção entre uma vida qualificada, protegida pelas formas jurídicas, e a mera vida, sobre a qual falava Benjamin, entendida por Agamben como vida biológica. A vida nua é esta vida biológica capturada pela forma jurídica, mas de modo que sua captura guarda um paradoxo: a sua simultânea exclusão. A vida nua é, então, uma vida sem sua forma, e, ao mesmo tempo que a forma jurídica tenta incluí-la, também tal forma exclui sua dimensão mais biológica.
O resultado disso é a relação paradoxal que temos com a máquina jurídica, uma relação de exceção, ou, ainda, de abandono. Em termos práticos, exemplificativos, posso dizer que, sob tal condição, se possuo direitos individuais, subjetivos, posso ser considerado cidadão, mas há algo meu que fica de fora desta ficção jurídica e que pode, a qualquer momento, ser alvo de uma ação, de uma força pretensamente legal, mas sem legitimidade, ou pretensamente legítima, mas sem legalidade, capaz de me reduzir ao corpo sem direitos. Em suma, meu corpo biológico está desconectado, portanto, mesmo sob regime jurídico-constitucional, da proteção de seus dispositivos legais e de suas instituições político-estatais.
E isso é assim porque meu corpo biológico está em permanente relação de abandono com o direito, uma vez que o estado de exceção não é um momento eventual previsto por uma constituição, quando se está em necessidade fática (calamidade pública, guerra etc.). Esta exceção tem sido a regra nas democracias, como disse Benjamin e como ainda afirma Agamben – e como é o caso explícito do Brasil, com sua história republicana marcada por estado de exceção, vide o resultado dos estudos do Prof. Andityas Matos e Ana Suellen Tossige no artigo O estado de exceção no Brasil republicano (2017).
Por isto, o filósofo italiano nos compara à figura do homo sacer, este sujeito dos tempos romanos cuja morte não é considerada homicídio. Por isto, mesmo sob democracia, somos todos virtualmente homini sacri, como o filósofo diz.
Mas como se pode escapar dessa condição de vida nua? Da analogia de sermos pessoas sagradas, num sentido muito próprio, de termos perdido nossa humanidade, ao ponto de se considerar nossa morte algo banal? Agamben não quer, com isto, recuperar algum status anterior, que nunca existiu, na defesa e garantias de direitos e proteção desta dimensão biológica do meu corpo. Ao mesmo tempo, também não se trata de não se ter a ver com alguma ideia de forma, de ethos, de normatividade.
A forma-de-vida, escrita assim, com hifens, é justamente a possibilidade de se viver uma vida cuja regra de se viver não é um parâmetro regulador, do qual poderíamos infringir simplesmente. Mas uma possibilidade de viver uma regra, uma forma, que coincidisse com as nossas vidas, de modo inseparável. Estado de exceção nenhum poderia nos separar desta forma-de-vida. Pois viveríamos a forma, a regra, o ethos de tal modo que os dispositivos jurídico-políticos perderiam seu uso comum, como conhecemos, porque já não teriam a mesma serventia.
Trata-se de um viver em que suas formas de viver são possibilidades de vida, potências de vida, as quais não precisam das ordens estatais e jurídicas, pois se tem o corpo como experimento, e um experimento pensante de si. É verdade que se trata de um conceito hermético ainda, mas ele tem a ver com a possibilidade de uma outra política, uma outra comunidade, que se refere à possibilidade de se dar outro uso às coisas, ao direito, ao poder, a si mesmo. E disto se poderia pensar outras formas de organizações políticas, abrindo-se caminho para as possibilidades anarquistas, ou mesmo pós-anarquistas – para utilizar um termo de outro estudioso contemporâneo da teologia política, Saul Newman, cujo livro Postanarchism (2016), foi traduzido neste ano por Lucas Lazzaretti, com o título Do anarquismo ao pós-anarquismo (2020).
É verdade que Agamben se utiliza da vida franciscana como exemplo de uma forma-de-vida. Ele recorre a um exemplo histórico europeu-medieval para falar desses sujeitos, cujas vidas não estão separadas da Regula de São Francisco de Assis. Por isto, diferente de um padre diocesano, um frade tem no seu viver a vida da regra de sua Ordem, a vida de Cristo, ao ponto que a dualidade entre norma e ação, teoria e prática, regra e vida, esteja resolvida na noção conhecida na Filosofia Analítica, por meio de Wittgenstein, de “normas constitutivas”, isto é, normas que não prescrevem uma ação determinada nem regulam um estado de coisas. Como explica Agamben no seu Altíssima pobreza (2015), trata-se de normas que fazem existir o próprio estado de coisas. Aqui, está se referindo à lebensform (forma-de-vida) das Investigações filosóficas (1953) do Wittgenstein tardio. A vida unida à sua forma é a vida em prática, uma forma que constitui, produz um uso, sem subsunção, pois não se faz por aplicação de uma operação lógica. É muito mais uma prática social.
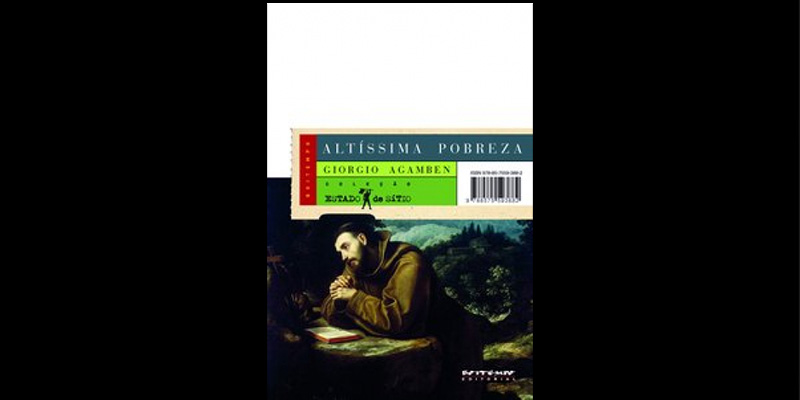
Altíssima pobreza, de Agamben, em edição de 2014 (Boitempo) | Imagem: divulgação
Não se trata de se descrever uma forma-de-vida ocidental do nosso século. Agamben está muito mais, com isto, tentando pensar e propor uma saída para o estado atual de coisas, de nossas vidas, as quais são – umas incomparavelmente mais, outras muito pouco, devido aos seus privilégios de classe, raça e gênero – virtualmente sacri, nuas. E a saída seria dar novo uso às coisas, ao direito, como pensava Benjamin ao ler Kafka: brincar com o uso cotidiano das coisas, como é o direito, por exemplo, estudado por Bucéfalo, o cavalo de Alexandre, o Grande, ao se tornar jurista, quando se aposentou das batalhas.
Este novo uso também pode se referir às nossas vidas, nossos corpos, aos experimentos de pensamento, procurando por outras possibilidades, por outras potências de vida. Mas ainda resta saber quais formas-de-vida são possíveis, eticamente aceitáveis. Acho que um caminho possível é pensar com Agamben, mas também com o que a filósofa suíça Rahel Jaeggi escreve sobre o tema, pensando em delimitar de modo mais específico a ideia de forma de vida e pensar seus limites aceitáveis em um contexto político democrático. É preciso saber: quais formas de vida são possíveis? Quais são aceitáveis?
IHU – O Papa Francisco tem feito seguidos apelos para a Teologia sair de si, permitir-se dialogar, atravessar e ser atravessada por outras ciências. Como o senhor interpreta esses apelos? Quais questões de fundo o pontífice parece querer tocar?
Ricardo Evandro Martins – Não sei se sou capaz de responder bem a esta pergunta. Mas diria que é interessante que a teologia pudesse dialogar com a filosofia contemporânea, e não só com os herdeiros do tomismo metafísico-ético-jurídico, mas também com o pós-estruturalismo, por exemplo. Agamben, mas, antes dele, Derrida, e, mais contemporaneamente, Colby Dickinson, têm feito isso. Acho que a teologia deve entrar em diálogo com os estudos de gênero, como faz Marcella Althus-Reid, com os debates dos movimentos feministas, com Ivone Gebara.
Também creio ser muito urgente uma teologia atenta à economia, ao modo como lidamos com os bens de consumo, com o dinheiro, com a justiça social. Uma teologia que não esteja apenas preocupada com a moral sexual ou reprodutiva, mas também com a justiça distributiva – e isto não seria nada “pós-moderno”, pois, em verdade, estaria bastante próximo da tradição aristotélico-tomista, e também da própria história dos documentos da Igreja, como a Doutrina Social da Igreja, para se pensar criticamente o capitalismo, as relações de trabalho etc.
Também não podemos esquecer da necessidade de se pensar uma Teologia preocupada com a natureza, com o Antropoceno e com os desafios que a Física e a Astronomia contemporâneas nos colocam, especialmente nestes tempos de retomada da exploração especial, bem como de intensas investigações sobre os mistérios da matéria, via aceleradores de partículas, bem como os desafios teológicos que a presença de uma consciência de pretensa inteligência artificial nos impõe, ou com os desafios bioéticos da tecnologia sobre o corpo humano, que já se apresenta transumano.
IHU – Com uma intensidade ainda maior do que nas eleições de 2018, a religião tem se configurado como território de disputas nas eleições presidenciais desse ano. Diante de tudo que vivemos desde 2018 e pelo que temos visto, podemos acreditar num progressismo religioso?
Ricardo Evandro Martins – Acho que podemos acreditar, sim. Como também acho que é nosso dever pensar numa religiosidade a qual queria chamar, em vez de progressista, de antifascista. Mas com cuidado para também não reduzir a religião à política, tampouco fingir que religião nada tem a ver com política. Lembrar que há dialética entre teologia e política, mas também entre religião e política. Saber seus limites, dos usos dos argumentos religiosos no espaço público, da conveniência destes argumentos em debates que interessam movimentos sociais não religiosos, também é muito importante.
Bem, sobre isso, acredito que precisamos sobretudo defender uma postura de respeito às diversas religiões no Brasil, garantir o exercício dessa pluralidade e abrir o caminho para um tipo de teologia que esteja preocupada em pensar o estado democrático de direito, as liberdades e os direitos sociais das pessoas; enfim, os direitos humanos. E isto não significa se render a um tipo de relativismo comumente imputado ao que você chamou de “progressismo religioso”. Mas da necessidade de se repensar teologicamente, dentro dessas religiões, de modo que não criemos escândalos diante de tabus – aqui, lembro do padre James Alison e da sua iniciativa de se repensar questões centrais dentro da Igreja, especialmente na pauta da sexualidade de seus fiéis.
Se conseguirmos avançar nessas questões, com um debate aberto e respeitoso, com pessoas que estejam dispostas à capacidade de escutar, mais do que falar, deixando espaço para a outridade da fala alheia surgir, sem que, com isto, se desprenda de suas tradições, poderíamos construir aquilo que o filósofo alemão Gadamer entende por diálogo, via fusão de horizontes – mesmo sabendo dos riscos dos restos de idealismo e de utopia nesta ideia, quando se sabe que talvez haja limites para o diálogo e para a disposição de dialogar.
IHU – Na contracapa de seu livro “Seis ensaios sobre Agamben” (Editora Fi, 2020), o senhor já transborda a ideia de que um processo de pesquisa é encharcado de vivências como as que o senhor narra desde o norte do Brasil, em 2020, e atuando em uma instituição pública. Podemos ler isso como uma subversão à ciência moderna? Quais os desafios para transpormos as assepsias científicas que ainda nos inebriam diante das transformações da realidade?
Ricardo Evandro Martins – Posso me arrogar a falar das ciências humanas. Este foi o tema da minha tese, publicada sob o título Ciência do direito e hermenêutica (2016), quando pude falar sobre o método das ciências humanas, especialmente da ciência do direito.
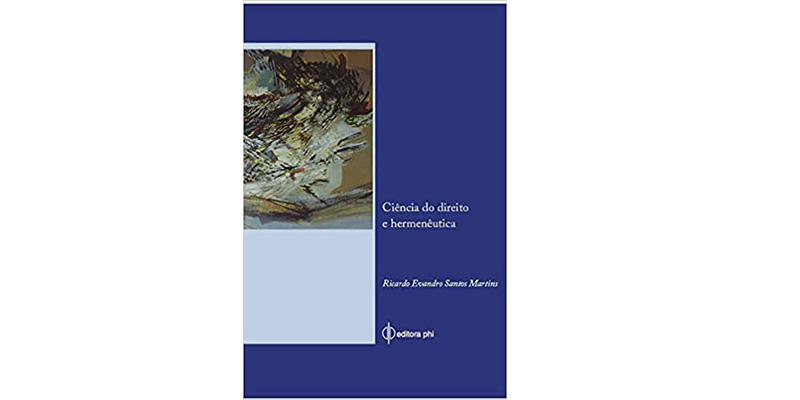
Ciência do direito e hermenêutica, de Ricardo Evandro Martins (Editora Phi; 2018) | Foto: divulgação
E, dessas ciências, é possível, sim, tentar subverter uma certa noção de ciência humana moderna, que foi forçadamente empurrada para a epistemologia das ciências naturais. Bem, em verdade, nem estas últimas já se sustentam com tanta força sobre o ideal rigoroso de “assepsia científica”, uma vez que, ao menos desde Kuhn, as ciências trabalham com a noção de paradigmas, e que necessitam, desde os horrores causados pelos cientistas nazifascistas, estar sob a crítica vigilante do biodireito e da bioética sobre seus discursos e práticas, as quais não se livram de uma determinada tendência biopolítica e econômica.
Mas, sobre as Humanidades, é preciso lembrar que elas possuem tradição própria – sendo a ciência do direito uma das mais antigas, vale lembrar –, e que, portanto, quanto ao seu método e rigor, pretensão de objetividade e ética na pesquisa, a retórica, pensada desde a Hermenêutica filosófica de Gadamer, com o seu Verdade e método (1961), é o eixo central, conjuntamente com suas categorias, herdeiras da tradição latina, como phronesis, ethos, inventio, stasis, dynamis – sobre a relação entre hermenêutica e retórica, indico o livro publicado neste ano por Hiago Mendes, fruto de sua tese, com o título de Hermenêutica filosófica e retórica (2022). Portanto, o horizonte de preconceitos, o lugar de onde se fala, a explicitação dos aspectos da experiência dos pesquisadores em ciência humanas, ajudam na tarefa persuasiva e na própria compreensão de seu trabalho científico.
Contudo, é importante dizer que as vivências, ou melhor, as experiências devem ser ponto de partida, sempre sob o juízo crítico, e abertas à possibilidade do estranhamento que os dados, os textos e a conjuntura a ser interpretada podem oferecer num movimento dialético, de dialógico entre horizontes. Este é o principal desafio, saber-se que se está lá na investigação, na elaboração do texto, mas que isto é apenas um começo ao qual se pode retornar, porém sempre com os rigores retóricos e críticos necessários de se deixar o novo surgir. Em outras palavras, o desafio das ciências humanas não é apenas o de criticar e o de combater o ideal de neutralidade científica, mas também o de criticar a falsa ideia de que sua vivência explica tudo, resume tudo num solilóquio colonizador que pode – e aqui, lembro das aulas do Prof. Luiz Rohden – ceifar uma possibilidade ético-discursiva muito importante: o de se estar errado.