Citado pelo Papa Francisco durante sua viagem ao Canadá, ele enfrentou como nenhum outro pensador os desafios da modernidade: o filósofo canadense Charles Taylor, 90 anos, concede ao La Croix L'Hebdo uma entrevista em que faz a sua releitura do projeto moderno e fala sobre as dificuldades que este projeto enfrenta hoje. Enquanto oferece a sabedoria de sua avançada idade.
A entrevista é de Élodie Maurot, publicada por La Croix L'Hebdo, 29-07-2022. A tradução é de André Langer.

Charles Taylor em conferência no IHU, em 2013 (Foto: Acervo IHU)
Dizem que todo grande filósofo é homem de uma só questão. Qual é a sua?
Acredito que todo o meu trabalho gira em torno de um centro: o que é o ser humano? Esse interesse vem de muito longe, da época dos meus estudos na Oxford. Fiquei muito impressionado – negativamente! – com a filosofia que aí me ensinaram. Era uma filosofia muito cartesiana e lockeana, ou seja, animada por uma concepção de ser humano dualista, dividido entre corpo e alma.
Era e continua sendo óbvio para mim que os seres humanos não funcionam assim, de maneira mecanicista. Foi o que procurei demonstrar. Eu quis, por conseguinte, esclarecer como o homem se compreende a si mesmo através de linguagens extremamente variadas, que podem conter mais do que palavras, porque também se pode compreender a si mesmo através da música, de uma obra de arte... Eu procurei as linguagens que permitem ao homem desenvolver sua vida interior, sua vida profunda.
Você é considerado um grande filósofo da modernidade. O que é a modernidade para você e qual é fundamentalmente o sentido do projeto moderno?
É possível que eu seja de fato considerado um filósofo da modernidade. Por quê? Porque acredito que o ser humano só se compreende através da sua história. Para ser um filósofo da modernidade, é preciso ter uma certa concepção de onde estamos e de onde partimos, e medir qual é a diferença entre os dois pontos.
O que é a modernidade? Não tenho uma resposta simples para esta pergunta, mas destaco alguns elementos muito marcantes. Em primeiro lugar, há a ciência moderna, que oferece uma concepção do cosmos completamente diferente das grandes visões anteriores. Depois de Galileu, Descartes e Bacon, até as descobertas mais recentes sobre o universo, pensamos no ser humano através da sua evolução. A ciência agora faz parte da concepção profunda que temos de nós mesmos.
Como segundo fator, muito diferente, da modernidade, destacaria nossa capacidade de organizar, controlar e dominar. É uma atitude que surgiu entre os séculos XVII e XVIII e que se acentua cada vez mais. Vemos isso com a pandemia da Covid-19. Na Idade Média, esse tipo de epidemia teria sido considerado uma praga, um castigo divino. Nós, ao contrário, organizamos quarentenas, usamos máscaras, procuramos vacinas para controlar a doença... É uma atitude moderna.
Por fim, o terceiro fator, essa auto-organização em nossa relação com o universo acompanha uma auto-organização política, o grande movimento do advento da democracia e da emancipação política.
Qual é o desafio da modernidade hoje?
Esta é a pergunta que me fiz quando era jovem estudante em Oxford. Há uma maneira de entender a modernidade que diz: “a modernidade é a ciência e a tecnologia”, e considera todo o resto como superstição, ideias vagas, esperanças e medos irracionais, o que é melhor deixar de lado. Esta é uma tentação muito forte nos dias de hoje. Podemos ver que, quando algo dá errado, nossa primeira reação é procurar uma maneira de controlar o que nos escapa, colocá-lo em uma caixa e evitá-lo por meios tecnológicos.
No entanto, essa atitude deixa uma abertura escancarada, um vazio, deixa de lado o que pode ser caracterizado como o problema do sentido da vida humana. É dentro desse questionamento, se o sentirmos, que nascem as intuições. Elas levam as pessoas a uma certa fé, a uma certa espiritualidade, a formas expressivas, que levam a explorar mais a existência em vez de tentar controlar o que acontece...
O que é, portanto, absolutamente determinante para a nossa época são, para mim, duas coisas. É, em primeiro lugar, a consciência da imensa diversidade de caminhos, de veredas para o sentido profundo da existência humana.
É, em segundo lugar, a grande divisão que existe entre aqueles que se interessam por esses caminhos de sentido e aqueles que acreditam que só a ciência e a tecnologia contam, e que de resto se apegam à concepção de que o ser humano está confrontado com um universo sem sentido. Existe agora toda uma retórica em torno da falta de sentido do universo. Da minha parte, prefiro olhar na primeira direção.
Em que altura estamos na realização do projeto da modernidade?
O que me cativa e, ao mesmo tempo, mais me preocupa, é a evolução em que estamos engajados. Somos, por assim dizer, obrigados a aspirar aos valores que nos demos e que são definidos através da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: a liberdade, a igualdade entre os seres humanos, a autogestão no sentido amplo, que inclui o projeto de sociedades democraticamente governadas. Quase todos afirmam fazer parte desse projeto, exceto talvez a Arábia Saudita. Mas como realizá-lo?
Colocar em prática o projeto moderno significa enfrentar muitas dificuldades profundas. Hoje, somos confrontados com patologias ligadas às identidades comuns. A primeira delas é que há cidadãos que são cidadãos de pleno direito e outros que não o são, ou em menor grau. Essas diferenças de status vêm de concepções, quase inconscientes, que colocam hierarquias entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre ocidentais e indivíduos do mundo ex-colonial... Enquanto essas pessoas de “segunda classe” se mantiverem em seu lugar, tudo parece correr muito bem, mas, a partir do momento em que tentam implementar a igualdade proclamada nos princípios, isso provoca uma profunda crise de identidade.
Esta é a crise que os Estados Unidos enfrentam hoje, com o florescimento da “white supremacy”, a supremacia branca, defendida abertamente. Estamos assistindo em termos políticos à luta entre duas definições de identidade comum.
De um lado, a de Trump, para quem a identidade americana mais válida é a dos brancos vindos da Inglaterra, muitas vezes evangélicos. Aqueles que chegaram mais tarde são considerados cidadãos de segunda classe.
Do outro lado, em Barack Obama e Joe Biden temos outra concepção de identidade, resumida na frase da Constituição americana, que afirma que ela visa “a more perfect union” (“a uma união mais perfeita”) e que promove uma sociedade que muda para realizar a promessa de igualdade e liberdade proclamada em sua origem. O conflito entre os proponentes dessas duas formas opostas de identidade torna-se quase indistinguível.
Se me permite falar da França, creio que a situação é semelhante. Há franceses que parecem se sentir ameaçados pela presença de muçulmanos ou de ex-colonizados e constantemente lhes impõem limites, como não usar o véu na escola, por exemplo, ou, como propunha Le Pen durante a campanha, proibir seu uso nos espaços públicos. Seria uma injustiça flagrante: essas mulheres muçulmanas teriam a escolha entre abandonar a prática ligada à sua fé ou permanecer na França. Esta é para mim a versão francesa da luta identitária entre republicanos e democratas estadunidenses.


Capa de A ética da autenticidade e Para uma ética do reconhecimento (Foto: Divulgação)
Como podemos superar esta grave divisão entre cidadãos?
Em todos os lugares, as crises que sacodem a identidade nacional fazem com que só consigamos ver o outro como um traidor. O que mina a vida política, que se torna um beco sem saída. Haveria uma maneira de superar essa oposição, de transcendê-la, mas exigiria uma mudança bastante profunda na concepção do que é a vida boa, a vida profunda, a vida que realmente realiza o potencial da humanidade. Penso em líderes como Martin Luther King ou John Lewis, que enxergaram a possibilidade de propor ao oponente, quase inimigo, uma nova forma de se relacionar com o outro que aceita a diferença e abre a possibilidade de uma reformulação criativa do nosso modo de viver juntos.
Há, assim, saltos qualitativos na história que as pessoas são capazes de realizar, mas para isso é necessário que os porta-vozes de um lado realmente abandonem a postura de temor e ódio, de raiva e medo, para abordar o outro como um possível parceiro. “Lay down the burden of hate” (“Solte o fardo de ódio”), propôs John Lewis. Acho essa percepção antropológica de que o ódio é um fardo, algo que te esmaga, realmente extraordinária. No entanto, a oferta de diálogo deve ser aceita. Não sei se ainda é possível na França e nos Estados Unidos... No Canadá, a situação é um pouco menos grave, porque a sociedade está menos polarizada.
No entanto, gostaria de acrescentar que o grande desafio da democracia que enfrentamos hoje não deve nos surpreender. Estava de certa forma inscrito nos objetivos muito elevados que aceitamos quando nos tornamos modernos, no projeto de criar essa sociedade autogovernada, que exige uma certa unidade e uma certa igualdade entre os cidadãos. Diante destas dificuldades, ou dizemos que os regimes autoritários têm razão, e renunciamos à igualdade e à autogestão, deixando-nos governar por dirigentes que esperamos sejam benevolentes, ou tentamos seguir em frente.
Em que solo se enraíza a sua vocação filosófica, que é também uma vocação para o diálogo?
Acredito que esteja enraizada no bilinguismo da minha família. Quando eu era criança, acontecia de nos encontrarmos muitas vezes em família, seja entre anglófonos que falavam dos francófonos ou entre francófonos que falavam dos anglófonos. Com meus pais, ficávamos impressionados com o que ouvíamos uns dos outros. Ficávamos impressionados com os mal-entendidos entre os dois grupos.
Em vez de abandonar os assuntos que enraiveciam, especialmente os assuntos políticos, essa situação deu à minha família a vocação de explicar, de dizer: “Não, os outros não são assim.” Tomamos esse caminho espontaneamente, porque também queríamos que esses dois grupos se entendessem, porque era doloroso para nós que eles estivessem em desacordo. Quando nos afastamos, tornamo-nos, de certa forma, tradutores a despeito de nós mesmos.
Você é cristão, católico. Qual tem sido seu itinerário de fé?
Nasci em Quebec, em uma família mista anglicano-católica. O lado católico da minha família está ligado à minha mãe, que fala francês. Meu pai, um anglicano, não era muito piedoso. Ele era de Toronto e não falava uma única palavra em francês! (Risos) Na minha infância, eu ia à missa todos os domingos em uma paróquia um tanto abastada em Outremont. Ali aprendi uma certa retórica católica, mas ela realmente não pegou, e quando adolescente eu estava completamente desencorajado pelo desejo extraordinário de controle que o catolicismo carregava.
O problema do catolicismo de Quebec era o de um pequeno povo de língua francesa que foi deixado às margens do Rio São Lourenço, cercado por grandes continentes de anglófonos. E ele tinha que sobreviver! A sobrevivência exigia coesão, e essa coesão ocorreu através do nacionalismo quebequense, do qual a fé católica era um aspecto essencial. Era, portanto, um catolicismo com uma identidade muito forte: tínhamos que ficar juntos. Abandonar a fé era uma traição ao povo... Essa insistência acabou me deixando perdido, irrecuperável, para esse tipo de crença. Meu irmão simplesmente abandonou a fé, considerava-a ridícula.
O que o prendeu à fé?
Se tomei um caminho diferente do meu irmão, é porque, felizmente, conheci muito cedo os grandes autores que prepararam o Concílio Vaticano II, como Henri de Lubac e Yves Congar. Entre os dominicanos e os jesuítas franceses e quebequenses, todos se conheciam, e seus textos circulavam mesmo depois de sua condenação por Roma. Li seus escritos quando tinha 22 anos, antes de Pio XII morrer! Isso me impressionou profundamente e me tocou. Comecei então um certo caminho com a fé católica. O que escrevi em Uma Era Secular é, portanto, um pouco autobiográfico. Neste livro, falo sobre como pessoas, sem contato com a fé cristã ou após um contato negativo, se deparam com um texto ou uma pessoa, um “ponto de contato” com a fé cristã, são impactadas e iniciam uma caminhada.

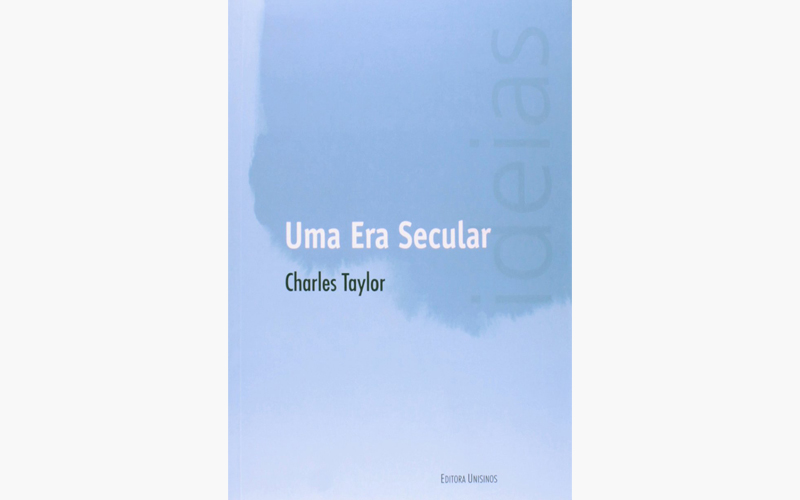
Reprodução da capa da obra Uma era secular, traduzida pela editora Unisinos
É através desses seekers, desses buscadores, que novos pontos de contato são criados. Isso constrói uma vida eclesial que é bem diferente daquela do passado e que certamente não é guiada por regras. Acredito que estamos entrando em uma época em que não há outra maneira de entrar na fé a não ser encontrar esses pontos de contato e inventar novas formas eclesiais.
Você fez muito na sua vida e agora está chegando a uma idade em que está ciente de que há coisas que não pode mais fazer e outras que não tem tempo de fazer. Como você vivencia essa relação com a finitude humana?
Conforme você vai envelhecendo, a situação é simultaneamente pior e melhor do que você descreve! (Risos) É pior, porque quanto mais se avança, mais se vê que há muitas coisas que ainda não se entende. E o que alguém precisaria entender para realmente ter controle sobre a vida, a consciência do que precisaria saber, aumenta à medida que avança. Corremos atrás de um limite que corre mais rápido! (Risos) Então isso piora a situação. Mas, por outro lado, também a torna mais suportável.
Imagine chegar à minha idade e se faltasse um pouquinho para alcançar a compreensão mais completa (ele indica com um gesto um espaço muito pequeno entre o polegar e o dedo indicador). E nesse momento, a pessoa adoece, morre, e falta esse pouquinho... Seria absolutamente desesperador e insuportável! Mas é o contrário. Sócrates estava certo. Sim, ele estava certo: quanto mais você entende, mais você vê que não entende grande coisa... Isso rima com essa sensação de que a meta do conhecimento completo está retrocedendo, a ponto de ficar claro que nenhum ser humano jamais poderá alcançá-lo.
Ao longo de sua vida, que fontes irrigaram sua caminhada espiritual?
São muitas. Citei os teólogos franceses do Vaticano II. Também recebi muito de Rowan Williams, arcebispo de Canterbury, do sociólogo inglês David Martin. Alguns poetas também me ajudaram: Hölderlin, Rilke, Baudelaire... E depois há Dostoiévski, por sua compreensão extraordinariamente profunda do mal e da fé. A ortodoxia geralmente tem sido uma fonte muito importante para mim. Na minha juventude, participei da liturgia da Páscoa em uma igreja russa. Isso me tocou profundamente e ainda me toca.
Por quê?
É difícil para mim colocar isso em palavras... Quando você assiste à liturgia da Páscoa ortodoxa, há um canto que proclama: “Cristo ressuscitou, pela Sua morte venceu a morte. E deu a vida aos que estão nos túmulos.” Quando o ouvi pela primeira vez, meu pai estava morrendo – ele morreu quando eu era muito jovem. A liturgia ortodoxa abre a perspectiva da ressurreição.
Você fala sobre a ressurreição. Seu amigo, o filósofo Paul Ricœur, recusou-se a imaginar a vida eterna para não sobrecarregá-la de imagens infantis, contentando-se em estar “vivo até a morte”. Como você imagina essa travessia?
Para falar a verdade, não consigo imaginá-la... Não consigo imaginar essa vida além da nossa vida. Por enquanto, é um quebra-cabeça para mim. Quando você envelhece como eu, sente que está perdendo meios, capacidades. É a morte em pequenos passos. É difícil viver assim, e felizmente a fé contrabalança esse sentimento de ser condenado. Mas a fé coloca sempre este desafio ao ser humano: não é o que sentimos ser o mais importante na nossa vida cotidiana que nos permite identificar as questões decisivas.
Essas pequenas mortes que você menciona, elas apenas despertam arrependimento ou podem abrir outra maneira de ser? Elas são “educadoras”?
Deveriam ser, e tenho certeza que em algum nível são. Porque nem sempre você pode viver como se fosse um grande atleta que acaba de ganhar a competição olímpica... (Risos) Elas são um estímulo para pensar e refletir mais do que uma fonte de respostas imediatas.
Para apresentar isso em termos de música, há esta cantata de Bach que diz “Ich habe genug” (“Já tenho o suficiente”), onde se expressa o desejo da vida eterna. É extraordinário, é muito bonito, mas não consigo – até agora – sentir a aproximação da morte dessa maneira. É importante, no entanto, que a música não apenas lhe dê uma articulação do que é sentido profundamente, mas também lhe ofereça o desafio de entender essa atitude tão diferente em relação à morte. E talvez um dia eu ligue para você para dizer: “Eu entendi Bach!” (Risos)
Suas datas
1931 – Nascimento em Montreal (Canadá).
1961-1997 – Professor de ciência política e de filosofia na Universidade McGill em Montreal.
1989 – Publica As fontes do “self”. A construção da identidade moderna (Editora Loyola).
1991 – Publica Le malaise de la modernité (Cerf, 2015, 125 p.)
2007 – Publica Uma Era Secular (Editora Unisinos, 2010, 930 p.). Nomeado pelo governo de Quebec como copresidente da “Comissão de consulta sobre práticas de acomodação”. Seu relatório, mais liberal que o da Comissão Stasi (1998-2004) na França, defende a proibição de símbolos religiosos apenas para funcionários do Estado em cargos de autoridade e a retirada do crucifixo da Assembleia Nacional.
2015 – Divide com o filósofo Jürgen Habermas o prêmio John-Werner-Kluge, com a dotação de 1,5 milhão de dólares, que premia “o trabalho de uma vida nas humanidades e nas ciências sociais”.
Sua paisagem – Charlevoix
“Charlevoix está localizada entre Quebec e Tadoussac, no lado norte do Rio São Lourenço. É uma paisagem magnífica que produz uma impressão muito forte, com uma vista panorâmica do rio e da montanha. Essa paisagem me ancora em Quebec, país unido pelo curso desse rio, que vai da fronteira oeste até o mar. Em Quebec, mesmo morando na cidade, temos consciência dessa imensa paisagem que nos cerca, que se estende ao Norte, quase até ao limite de qualquer habitação humana.”
Sua música – Os Últimos Quartetos de Beethoven
“Gosto particularmente do quarteto nº 15, opus 132. Neste quarteto, há um movimento muito lento no meio, que é como uma meditação das mais profundas. Essa música me levou tão longe quanto qualquer texto escrito sobre a meditação. Através dela, senti uma articulação do que eu queria explorar mais. Ao ouvi-la, compreendemos que amamos a vida, procuramos como viver, procuramos o propósito da vida, procuramos o seu sentido…”
Seu lugar – A Abadia de Bonnevaux
“Pude visitar a Abadia de Bonnevaux, em Viena, que é o novo centro internacional da Comunidade Mundial para Meditação Cristã (WCCM). Conheço seu diretor Laurence Freeman desde o início do WCCM no Canadá. É um lugar onde minha meditação se aprofundou notavelmente.”