Para o sociólogo, vivemos tempos de anomalia. A sociedade pós-moderna “esfacelou as identidades sociais” e está difícil “ter uma percepção clara e objetiva do que está acontecendo”
A imagem que melhor ilustra a atual fase histórica do mundo é “um eclipse total da lua”. É a ela que o sociólogo José de Souza Martins recorre para dizer que “estamos vivendo um momento de ruptura dialética da historicidade social”. E mais do que isso: “estamos envolvidos num fazer história que não sabemos que história é”, alerta. “Não está acontecendo o que supúnhamos que aconteceria”, reitera, fazendo referência às tendências sociológicas elaboradas nos últimos 80 anos.
A reconstrução da cena da intervenção norte-americana na Venezuela no último sábado, 03-01-2026, que culminou na captura de Nicolás Maduro, e os desdobramentos políticos que conduziram à posse de Delcy Rodríguez como presidente interina do país, exemplifica a análise do sociólogo. “O acontecimento de Caracas teve estilo e ritmo de fake news, foi ensaiado como fake. Não se sabe o que é falso e o que é verdadeiro, o que é teatro e o que é realidade. Parece ficção, que foi um golpe dos chavistas contra eles mesmos. E talvez tenha sido. Nunca saberemos se foi Donald Trump que organizou ou dirigiu o golpe ou se ele, oportunista como é, pegou carona em golpe alheio. É o que sugere a rapidez com que houve entendimento entre ele e a presidente chavista que assumiu o poder, tudo como se nada tivesse acontecido”, comenta.
Para ele, “o que ocorreu na Venezuela teve o objetivo de deixar claro para o mundo que a ideia central da Doutrina Monroe – ‘A América para os americanos’ – é, na verdade, ‘as américas para os americanos’. E até muito mais do que isso. É explicitamente, ‘o hemisfério para os americanos’”. A avaliação corrobora as sucessivas declarações do presidente Trump e do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nos últimos dias.
Nesta entrevista, concedida ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU por e-mail, José de Souza Martins reflete sobre as “imensas dificuldades” da América Latina em “perceber e vislumbrar o que espera de si mesma” e as perspectivas para as eleições deste ano. “Vamos para as eleições de 2026 sem outro troféu que não o dos acertos políticos na economia e os inevitáveis recuos na política, nas alianças, o que fez do governo do PT um governo involuntariamente de direita. O governo governa nos marcos na lógica do absurdo, a lógica que presidirá as eleições. Absurdo que será agravado pela interferência do governo Trump nas eleições legislativas e estaduais, como ocorreu no Chile e na Argentina”. Enquanto isso, assegura: “Corações e mentes estão tomados pelo medo, pela insegurança pessoal, pela incerteza, pela crendice e não pela religião. As questões da segurança, da educação, do bem-estar estão no centro dos temores cotidianos que afligem a grande maioria da população”.
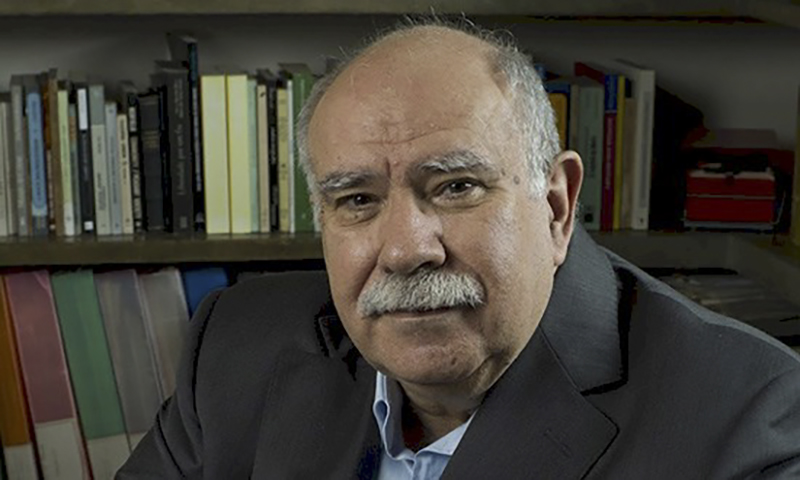
José de Souza Martins (Foto: Unesp)
José de Souza Martins é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo – USP. Foi professor visitante da Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa e membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão de 1998 a 2007. Foi professor da Cátedra Simón Bolívar, da Universidade de Cambridge (1993-1994) e atualmente é professor titular aposentado da USP. Entre suas obras, destacamos Exclusão social e a nova desigualdade (Paulus, 1997), A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala (Contexto, 2000), Linchamentos: a justiça popular no Brasil (Contexto, 2015) e Do PT das lutas sociais ao PT do poder (Contexto, 2016).
A entrevista foi publicada originalmente pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 09-01-2026.
IHU – O que está acontecendo no mundo neste primeiro ano do segundo quarto do século XXI? Caminha-se para qual direção?
José de Souza Martins – Ainda é muito difícil ter uma percepção clara e objetiva do que está acontecendo. Do ponto de vista do acontecer histórico, do devir, do presente como história, do possível, para que se possa ter alguma compreensão do que deixou de acontecer na perspectiva do que estávamos preparados para supor que aconteceria, é muito difícil saber o que está acontecendo. Porque é difícil saber o que não está acontecendo. O conhecer social é expressão de uma relação dialética. Estamos vivendo um momento de ruptura dialética da historicidade social. É raro que isso aconteça e está acontecendo agora. É como um eclipse total da lua. Nesses casos, a ruptura cria o desfio e a possibilidade de desenvolver uma compreensão sociológica do que está acontecendo.
Portanto, nessa perspectiva nada está acontecendo e nem mesmo os fatos indicam um rumo. Ao contrário. À luz das tendências teóricas e interpretativas da sociologia dos últimos 80 anos, está acontecendo o não acontecer, no sentido de que estamos envolvidos num fazer história que não sabemos que história é. Não está acontecendo o que supúnhamos que aconteceria. Isto é, nossa consciência social e nosso senso comum são falsos. A sociologia é o instrumento para investigar o que o falso, que parece verdadeiro, está acoberto. Está acontecendo o acobertado.
Não estávamos vendo o todo e o tudo, o visível e o invisível. Os indícios são de que estamos num extenso momento de otimismo histórico, de querer ver o que gostaríamos que fosse a realidade deste agora. Estávamos caindo num romantismo extemporâneo, dos que perderam tudo, as referências, a realidade, o do que são apenas sistemas conceituais vazios e residuais. As profissões se tornaram obsoletas, tornaram-se meras ocupações transitórias. A direita quer paralisar a história. A esquerda quer caminhar para uma realidade que é o futuro do passado, do tempo do protagonismo político das classes sociais, do conflito de interesses entre o capital e o trabalho, da luta de classes.
Porém, já não estamos na sociedade moderna e sim na pós-moderna, que esfacelou as identidades sociais porque perderam sentido. Não mais uma sociedade de produtores, mas de consumidores que se consomem numa busca difusa de ser alguém. Tudo se tornou consumível, irrelevante. Na sociedade de consumo não existe o acontecimento, os marcos das mudanças sociais, a direção, o rumo, o possível. Nela, as pessoas se movimentam para ficar no mesmo lugar.
É isso que explica a anomalia das ocorrências destes dias.
IHU – Muitas são as teses sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e a cada dia surgem mais informações sobre os envolvidos na operação e as tecnologias e táticas empregadas. O que se pode dizer com clareza sobre este acontecimento e o que ainda não estamos vendo bem em relação a esse conflito?
José de Souza Martins – Estou escrevendo quatro dias depois da invasão da Venezuela por forças militares americanas e de uma operação de sequestro de um presidente da República que demorou apenas 47 segundos para ser consumada: invadir-lhe o palácio e o aposento em que dormia e algemá-lo. Foi levado com a esposa para a Flórida de navio e de lá, de avião, para Nova York e de camburão para uma delegacia de polícia. A ocorrência revelou algumas coisas importantes, que mudam tudo. Foi uma operação policial e não propriamente uma operação de forças armadas. Ela documenta e indica que os Exércitos se tornaram inúteis, são obsoletos. Os países não precisam ser defendidos. Aparentemente, já não há o que defender nem para que defender.
IHU – Como o senhor reage às interpretações e reações que emergem, em grupos de esquerda, direita e extrema-direita, sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela? Que tipo de análise mais tem chamado a sua atenção enquanto sociólogo?
José de Souza Martins – Boas interpretações jornalísticas têm surgido, ao lado de umas poucas tolas e deploráveis, desinformadas. A melhor foi a do discurso do economista liberal americano e crítico do capitalismo e do imperialismo americano, Jeffrey Sachs no Conselho de Segurança da ONU, de que é assessor. Pode ser acessado pelo You Tube (no vídeo abaixo).
Um fato positivo é que o acontecimento tornou inúteis, inviáveis e inverossímeis as fake news. Aliás, o acontecimento de Caracas teve estilo e ritmo de fake news, foi ensaiado como fake. Não se sabe o que é falso e o que é verdadeiro, o que é teatro e o que é realidade. Parece ficção, que foi um golpe dos chavistas contra eles mesmos. E talvez tenha sido. Nunca saberemos se foi Donald Trump que organizou ou dirigiu o golpe ou se ele, oportunista como é, pegou carona em golpe alheio.
É o que sugere a rapidez com que houve entendimento entre ele e a presidente chavista que assumiu o poder, tudo como se nada tivesse acontecido. Ele próprio explicou o que ocorrera. Não era golpe. Era tomar de volta jazidas de petróleo desapropriadas de empresas americanas no passado.
Toda a ideologia de América grande novamente é significativa indicação de que os EUA estão em decadência. Tudo que lhe resta é voltar para trás, encontrar-se com os momentos históricos em que foi se perdendo.
Os ideólogos da grande América não compreenderam que o enriquecimento sem limite, em qualquer país, depende da ilegitimidade do saque e da sobre-exploração do trabalho. O capitalismo é um sistema econômico que torna um país cada vez mais rico e cada vez mais pobre, ao mesmo tempo. A América acolheu multidões de todos os países para se beneficiar de seu trabalho mais barato do que o dos próprios americanos. Nos últimos anos teve que expulsar diariamente grande número de latino-americanos, muitos deles brasileiros, embarcando-os compulsoriamente de volta a seus países, depois de muitos anos nos EUA e até com filhos lá nascidos. Trata-se de um despejo de seres humanos, de um descarte. A América não precisa mais deles. A ocorrência de Caracas, de usurpação de território alheio, indica que o capitalismo imperialista está mudando de método. Sob a aparência de uma alteração banal na realidade geopolítica, “inofensiva”, todas as conexões que explicam a falta de sentido do fato revelam uma radical mudança na concepção fas relações internacionais e do lugar nelas dos países mais frágeis e mais fragilizáveis.
IHU – A situação a que se chegou na Venezuela pode ser lida como uma vitória do trumpismo, uma reorganização interna do chavismo ou um fracasso da esquerda regional no sentido de não ter questionado e debatido publicamente as tendências do chavismo?
José de Souza Martins – É pouco provável que a ocorrência possa ser vista como vitória de Trump e do trumpismo. Na sessão do Conselho de Segurança da ONU, o ato americano foi condenado pela quase totalidade dos membros presentes. Apenas dois membros, além dos EUA, os hoje irrelevantes Argentina e Trinidad e Tobago concordaram com o que aconteceu na Venezuela.
O que ocorreu na Venezuela teve o objetivo de deixar claro para o mundo que a ideia central da Doutrina Monroe – “A América para os americanos” – é, na verdade, “as américas para os americanos”. E até muito mais do que isso. É explicitamente, “o hemisfério para os americanos”. Isso está praticamente claro em alguns documentos já antigos. Nesse sentido, praticamente todos os países do hemisfério temem a aplicação dessa versão radical da doutrina, mesmo os que aceitam submeter-se ao jugo ianque, os que se conformam em ser menos do que gostariam de ser e até poderiam ser. Como é o caso da Argentina, que renunciou a si mesma há muito tempo. Sabem que estão ameaçados de uma invasão relâmpago a qualquer tempo, com uma finalidade que torna o país irrelevante. Ou a atos efetivos de violação do seu direito a ser o que podem ser. A ideia trumpista não é a de invadi-los de fato, mas a de criar o medo permanente de que ocorra aos países do hemisfério o mesmo que aconteceu com a Venezuela. A possibilidade da concretização da violência tornou-se uma arma de guerra barata e eficaz. Isso faz dos EUA não um aliado nem um país amigo, mas o que não sabíamos ser um inimigo cada vez mais próximo do que é nosso e do que somos nós.
Eu estava escrevendo estas linhas, depois de Trump ter declarado que da Venezuela o que os americanos queriam era o petróleo, quando, dias depois, o principal assessor da Trump para a questão da política de confirmar a América Latina como quintal dos EUA, anunciou um programa de três etapas de intervenção na política interna do país invadido. Eles pretendem tomar posse da Venezuela como extensão do seu próprio território. A própria economia venezuelana será reestruturada para pagar os custos da invasão e da ocupação. A vítima financiará as despesas da aventura. O que, sob outros disfarces, já é norma das relações entre países poderosos e dominantes e países dependentes.
Portanto, o que caracteriza a radicalização da geopolítica americana atual é a improvisação, do tatear para decidir o que farão com o país ocupado. Um adicional na incerteza e no medo decorrente. Nela se decide o que fazer depois de já feito.
É claro que ao perder o respeito pelos outros no desrespeito aos acordos internacionais de que todos esses países são signatários, a América perdeu o respeito por si mesma e vem sendo arrastada para o abismo que cada vez mais a separa do que melhor a caracterizava.
IHU – Nesse sentido, Trump disse que a intervenção na Venezuela “significa que os Estados Unidos são os líderes deste hemisfério. Não vamos permitir que a China, a Rússia ou o Irã tenham presença em nosso quintal”. Marco Rubio afirmou que “o continente americano é o NOSSO hemisfério, [...] NOSSA região, [...] NOSSO quintal”. E acrescentou: “não vamos permitir que a indústria petrolífera da Venezuela seja controlada por adversários dos EUA”. Como o senhor lê essas declarações? Qual é o real interesse dos Estados Unidos na Venezuela ou no continente?
José de Souza Martins – Historicamente, os americanos temem a possibilidade de surgirem potências capitalistas nas Américas, ou em outros lugares, que tornem seu país um país secundário, de um capitalismo pobre. No que, de certo modo, os EUA estão se transformando. Canadá, Brasil, Argentina, México são países que têm essa possibilidade. O temor é bem antigo. Na década de 1920, o Departamento de Comércio americano fez uma pesquisa sobre a situação da indústria no Brasil e na Argentina, uma espécie de espionagem econômica. Já havia indícios de que esses países se industrializavam.
O relatório mostrou que o Brasil já estava com sua base industrial instalada e espalhada por diferentes regiões do norte até o sul. Indústria que tinha capacidade ociosa. Pronta para se expandir. E antes de 1930 já havia criado uma elite empresarial dotada de grande e criativo talento para a industrialização, para transformar o país de uma economia de exportação, recém-saído da escravidão, num país industrial.
Quando houve a crise econômica de 1929, que afundou o capitalismo na América e na Europa, no Brasil a indústria instalada assumiu a função de atender e substituir demandas de produtos manufaturados, bens de consumo e bens de produção. Com imensa ousadia, o Brasil antecipou-se em cinco anos a John Maynard Keynes e criou na prática da reordenação econômica sua própria versão do que viria a ser a teoria keynesiana do emprego e renda. Enquanto os outros afundavam, o Brasil se industrializava. Entrou na Segunda Guerra ao lado dos americanos em troca do fornecimento dos equipamentos para instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, que asseguraria, como assegurou, a confirmação do país num país industrial.
IHU – O que se pode esperar dos Estados Unidos daqui para frente em termos de geopolítica?
José de Souza Martins – Já não é necessário esperar. A onda de golpes militares apoiados pelos americanos nos anos 1960 e 1970 criou uma mentalidade conformista que tornou inviáveis as revoluções sociais e políticas na América Latina. Como a derrota do foquismo de Che Guevara na Bolívia mostrou, as esquerdas latino-americanas não estavam preparadas para compreender as contradições de sua própria realidade. A América Latina tem tido imensas dificuldades para perceber e vislumbrar o que esperar de si mesma e cometeu o imenso erro de reduzir os EUA a mero conceito vazio: capitalismo. Qualquer esquerdista e qualquer nacionalista na América Latina é prolixo no uso do “conceito” para se referir aos americanos, que nos definem com meras e depreciativas categorias.
Apesar dos estudos realizados por pesquisadores competentes das ciências sociais, sobre a nova e peculiar realidade do capitalismo, as pessoas que estão nos grupos de mediação política não leem, não estudam. Nem nas universidades. Aqui, as ciências humanas e as ciências sociais tornaram-se ciências sem objeto. A sociologia, por exemplo, está deixando de ser o que Hans Freyer definia como autoconsciência científica da sociedade. Nossa alienação é extensa.
Aqueles foram os anos das formas agudas de expressão da crise de gerações, do inconformismo com as injustiças, com a pobreza crescente, com a marginalização social, a multiplicação de favelas, a expulsão de trabalhadores rurais do campo.
Por mecanismos indiretos e de nenhuma visibilidade, em face de uma mentalidade insuficiente para compreensão do momento, durante a ditadura, as novas gerações foram empurradas em direção ao abismo do confronto desigual com os imensos poderes repressivos e militares dos regimes autoritários. No Brasil, sobretudo a partir de 1969, a ditadura vigiou, prendeu, torturou, matou, aliciou delatores nas universidades e nas fábricas. Toda a rede social da insurgência possível foi identificada e destroçada antes mesmo de agir. Famosa frase do comandante do Segundo Exército, um protestante, sediado em São Paulo, situa-se nessa mesma lógica de agora: “Vamos almoçá-los, antes eu eles nos jantem.” Ou seja, inventar o inimigo, estimulá-lo a atacar-se a si mesmo, supondo-se atacado, e eliminá-lo.
A ditadura formou seus próprios quadros de permanência após a abertura política que provavelmente ocorreria. Com a ajuda de cúmplices civis, os próprios militares implantaram na Constituição de 1988 o artigo 142 que supostamente assegura a intervenção militar em face de qualquer ocorrência que sugerisse mudanças políticas que distanciassem a nova ordem dos valores, ordenações e concepções próprias da ditadura. Os militares só não se tornaram um poder moderador porque o Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou essa interpretação do artigo.
A abertura política não encerrou a ditadura. Renasceu ela com Bolsonaro e o bolsonarismo. Estamos, portanto, vivendo as limitações de uma transição desprovida da dimensão da práxis transformadora.
Diferente do que ocorreu em outros países latino-americanos, temos tido setores de grande lucidez na política brasileira que conseguem driblar a política de confronto minuciosamente estimulada pela direita, beneficiária de um capitalismo anticapitalista, de crescimento econômico sem desenvolvimento social. A eleição de Lula, em 2022, mesmo com o revigoramento eleitoral da mentalidade do autoritarismo militar, vem dando indícios claros de uma consciência social inconformada com o legado da subalternidade de quartel a que fomos reduzidos.
IHU – Qual é o estado de espírito da sociedade brasileira neste ano eleitoral? O que foi gestado nos últimos três anos do governo Lula e da oposição bolsonarista?
José de Souza Martins – O bolsonarismo teve imenso êxito na criação de um poder paralelo e ilegal, extrapolítico, que lhe assegura a constância de uns 30% dos votos, além de anomalias inconstitucionais como a do aparecimento de uma falsa religiosidade de seitas e igrejas de devoção ao dízimo e ao poder. Na prática, a família Bolsonaro criou uma religião do Estado para seu uso e manipulação sem a devida reação da sociedade, especialmente das esquerdas e da Igreja Católica. Os evangélicos foram destituídos da consciência da separação entre o que é de César e o que é de Deus, que foi característica da postura dos protestantes no seu início no Brasil. E foi também da Igreja Católica. Essa decisão do regime republicano libertou bispos e sacerdotes da condição de funcionários públicos, funcionários do Estado.
Os medos fabricados e disseminados pelas redes e pelos púlpitos neutralizaram a cidadania de milhares de brasileiros, numa nova e modernosa política de cabresto. Um pastor se tornou uma espécie de capelão do bolsonarismo e em nome do seu pentecostalismo sem Deus manipula consciências e vontades.
Vamos para as eleições de 2026 sem outro troféu que não o dos acertos políticos na economia e os inevitáveis recuos na política, nas alianças, o que fez do governo do PT um governo involuntariamente de direita. O governo governa nos marcos na lógica do absurdo, a lógica que presidirá as eleições. Absurdo que será agravado pela interferência do governo Trump nas eleições legislativas e estaduais, como ocorreu no Chile e na Argentina.
IHU – Que debates poderiam disputar corações e mentes na eleição presidencial?
José de Souza Martins – Grupos e partidos sociais precisam rever profundamente sua pauta de itens de debate eleitoral. As pautas da luta de classes tornaram-se relativamente secundárias com a minimização histórica das classes sociais. O proletariado brasileiro tornou-se um proletariado de classe média. Os pobres tornaram-se uma categoria social residual, cujo drama não comove os conformados pela alienação do adesismo aos mitos da riqueza e do poder.
Corações e mentes estão tomados pelo medo, pela insegurança pessoal, pela incerteza, pela crendice e não pela religião. As questões da segurança, da educação, do bem-estar estão no centro dos temores cotidianos que afligem a grande maioria da população.
Ideologia não é a forma de conhecimento adequada para situar o tipo de consciência e de demandas que se pode ter numa situação como essa. Ideologia de esquerda é um luxo num país que é rico de poucos e pobre de muitos. Opção preferencial pelos pobres não diz aos pobres que opção é essa. É uma questão teórica que se explica cientificamente, mas não se explica existencialmente. A verdade da pobreza não chega à consciência social nem dos pobres como uma virtude. Não há virtude em passar fome, em morar em barraco de favela ou morar na rua ou em sepulturas de cemitério (como há em São Paulo).
A degradação humana não é reconhecível como uma bênção. Pobre não é simplesmente um não ter. É também e sobretudo um não ser. Achar que o problema da pobreza é um problema do mundo das coisas é desconhecer que ele é um problema de comprometimento da condição humana.
Pais pobres podem se conformar com o fato de serem privados dos meios e condições para terem uma vida digna. É, porém, nos filhos que podem decifrar a pobreza como injustiça numa sociedade que neles repetirá a forma de viver que injustamente lhes tocou.
Sem uma grande revisão atualizadora das pastorais sociais, à luz das descobertas e revelações das ciências sociais, dificilmente serão dados os passos propriamente libertadores da concepção de missão encarnada. Essa, aliás, é a linha do magistério dos últimos sete Papas e a linha dos documentos pontifícios. O próprio libertador precisa ser libertado dos simplismos de sua alienação.
A Igreja não precisa de partidos políticos para assumir uma teologia libertadora. Partido não liberta ninguém, especialmente num país em que os partidos são agrupamentos de interesses políticos, comprometidos com poder e dominação.
IHU – Recentemente, o sociólogo Manuel Castells ponderou o seguinte sobre a religião: “A religião e outras formas de espiritualidade estão se tornando cada vez mais importantes. Não se trata de fé; quem a tem, tem, e quem não tem, não tem. A necessidade de algo espiritual além do que nos aprisiona diariamente está crescendo, e as pessoas estão encontrando soluções diferentes. Pessoalmente, acredito que seja crucial neste momento resgatar o papel da religião e da espiritualidade como um contrapeso a um mundo que está se autodestruindo”. É isso mesmo? Como o senhor vê o papel das religiões no mundo de hoje?
José de Souza Martins – Castells se equivoca. Ele vê a religião como mero contrapeso ao mundo que está se destruindo. No caso da América Latina, muitas das próprias religiões são agentes ativos e intencionais dessa destruição. As verdadeiras religiões têm silenciosamente se protegido contra a manipulação e o uso antirreligioso da fé e da espiritualidade. A religião não é uma muleta para as adversidades desta sociedade.
Não só aqui, mas em diferentes lugares do mundo que visitei nos quais fiz observações dirigidas para compreender diferentes religiões como expressões dos decorrentes modos de vida: aqui, em diferentes santuários e em diferentes momentos, como em Aparecida do Norte, em Pirapora do Bom Jesus, em São Francisco de Canindé, no Círio de Nazaré, a maior celebração religiosa do Brasil. Na Catedral de Ely, em Cambridge, na Inglaterra. Na Catedral de São Pedro e na igreja dos Escoceses, em Genebra, na Suíça. Nas igrejas de diferentes religiões, nos domingos, em Gainesville, quando fui professor visitante da Universidade da Flórida, nos EUA. E na Rússia, quando acompanhei um grupo de religiosas, minhas amigas, na visita de entrevista com o Arquimandrita da Igreja Ortodoxa Russa, em Zagórski.
E finalmente, em várias ocasiões, ao longo de anos, nas visitas que fiz ao Vaticano e em audiências papais. Em todos esses lugares e momentos avalanches de jovens agregam-se às multidões de adultos e de idosos que têm mantido a respectiva religiosidade da tradição familiar. Um diversificado painel da persistente sobreposição da religião à política. Enriquecedora da dialética da libertação.
Paralelamente, uma confirmação da comunidade e do comunitário sobrepostos ao societário que o sociólogo alemão Ferdinand Tönnies já havia observado na segunda metade do século XIX.
Tudo parece indicar que a sociedade resiste à desumanização própria da pós-modernidade com valores, concepções e modos de vida da tradição conservadora insubmissa. No mundo católico, o personalismo de Emmanuel Mounier, o fundador e diretor da revista Esprit, indica uma perspectiva para uma revisão crítica da dialética da libertação. Um outro modo de situar criativamente a individualidade e a personalidade na pós-modernidade.
IHU – O senhor está acompanhando o pontificado de Leão XIV com qual espírito? O que esse pontificado pode significar no atual momento da história?
José de Souza Martins – Tenho acompanhado a sucessão dos Papas desde a eleição de Ângelo Giuseppe Roncalli com o nome de João XXIII e o grande evento histórico do Concílio Vaticano II. Discordo da ideologia anticatólica que procura definir o perfil dos Papas como de direita ou de esquerda. A Igreja não é nem pode ser partido político, o que não quer dizer que cada membro de Igreja não deva ter sua concepção de política e de busca de discernimento para decidir que orientação política apoiar e, sem assim julgar, nela e por ela ter militância.
Cada Papa tem seu carisma. E é muito evidente que os cardeais, ao elegerem cada um dos sete últimos Papas, escolheram os que melhor correspondiam às carências pastorais e os que melhor interpretavam o que deveria ser a missão da Igreja naquele momento.
Acompanhei com cuidado as visitas papais ao Brasil, as duas de João Paulo II, a de Bento XVI e a de Francisco. E as compreendi como momentos de descoberta dos próprios Papas do que é o povo de Deus em cada lugar e em cada momento. E compreendi que após Pio XII, que foi o Papa da Igreja de minha infância, a Igreja Católica tornou-se uma Igreja aberta à pluralidade e à diversidade, de sua composição e do modo de cada um viver a fé. Apesar de algumas tensões e alguns desconfortos, aberta ao ecumenismo, como se tem visto na postura ecumênica de todos eles.
Fiquei muito impressionado com o ocorrido com o Papa Francisco, no Rio de Janeiro, após a celebração na favela que visitou. Saiu caminhando por uma viela, sozinho, subindo o morro. Viu um pequeno templo pentecostal, de nome Rosa de Saron, cuja porta estava aberta, o jovem pastor acolhendo quem decidisse entrar. Convidou o Papa a visitar sua igreja. Explicou-lhe que em face de sua visita à favela e não tendo a localidade uma infraestrutura de apoio, como água potável e banheiros, abriu-a para acolher a população que viesse ouvir o Papa. Rezaram juntos a oração do Pai Nosso, abraçaram-se e se despediram.
Para mim é significativo que um ex-operário, o Papa Francisco, já no fim do seu papado, tenha escolhido o americano latino-americanizado Robert Prevost, um cura de aldeia e da roça, um sacerdote de missão, para ser cardeal. Com discernimento percebera que ele poderia ser Papa. Assim como a renúncia de Bento XVI abriria caminho para Francisco, coisa que ele de certo modo sabia. Justamente, porque diferentes entre si e na diferença se completam.
Se Francisco de algum modo com sua personalidade peculiar de padre de bairro em Buenos Aires, que trabalhou em fábrica, aberto à ousadia das inovações no culto, nos ritos, nas pastorais, Leão XIV, sem revogar inovações de seu antecessor, tem estado atento a algumas urgências de retorno a práticas. As que na pressa de atualizar a Igreja abriram uma certa insegurança na identidade religiosa dos que preferem que seu catolicismo seja de continuidade e não de descontinuidade. Com isso, as diferenças deixam de ser lacunas para ser os diferentes modos do encontro.
Fui batizado, fiz a primeira comunhão, fui crismado, fui aspirante da Cruzada Eucarística, sou casado num casamento ecumênico num templo católico, com autorização do Cardeal Agnelo Rossi, celebrado por um pastor e um padre. Sou pai de filhas batizadas na Igreja Católica.
Vivi com apreensão as atualizações rituais da Igreja após a morte de Pio XII. Eu confessava todos os sábados e ia à missa todos os domingos. Mas a Igreja de Pio XII me parecia distante. Num curto período, após a volta de minha família da roça, onde vivemos por dois anos, acompanhei minha mãe à igreja presbiteriana que ela passara a frequentar. Tive sorte: os pastores daquela pequena igreja eram intelectuais, um deles autor do primeiro romance operário brasileiro, premiado em concurso do Ministério do Trabalho. De quem, aliás, ouvi um sermão erudito sobre a teologia de Karl Barth, teólogo calvinista suíço. Nessa experiência, ganhei uma perspectiva ecumênica para compreender a religião.
Renovei minha relação com a Igreja com João XXIII. Tive oportunidade, numa visita de trabalho à Itália, de ir até Sotto-il-Monte, na província de Bergamo visitar a casa em que ele nascera, uma casinha de roça. Num quadrinho na parede de um dos cômodos, havia a metade de um bilhete ferroviário de volta de Roma para Veneza onde ele fora arcebispo quando partiu para a eleição do novo Papa. Ele não fora a Roma para ser Papa. Fora para não o ser, como sugere o bilhete de volta.
De modo que acolhi com alívio essa espécie de retorno à celebração eventual da missa ao rito tradicional, na própria Basílica de São Pedro, promovido recentemente pelo Papa Leão XIV. O celebrante voltado para o altar e mesmo à sua celebração em latim, depois de sete Papas acrescentando inovações ao elenco da diversidade da Igreja. Sem recuos.