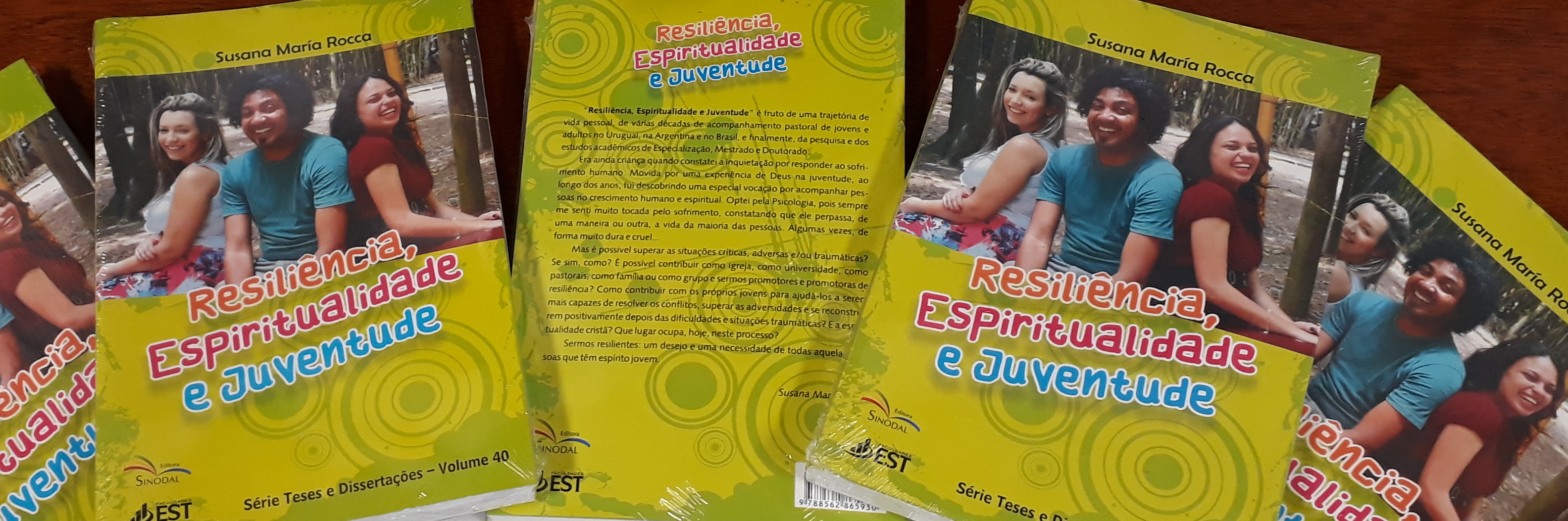16 Janeiro 2026
"Promover filmes que abordem a fé de forma crítica e inclusiva, que tratem a política com complexidade e não temam o sagrado como fonte de reflexão — e não de controle — é um caminho necessário para fortalecer a democracia e a cultura. Mais do que uma indústria, o cinema é espelho da alma coletiva. E como tal, deve refletir e projetar um mundo mais justo, diverso e consciente", escreve Frei Betto, escritor, autor do romance histórico Minas do ouro (Rocco), entre outros livros.
Eis o artigo.
Agora que o Brasil vê sua produção cinematográfica prestigiada interna e externamente, com premiações importantes como mereceram Ainda Estou Aqui, de Walter Salles; O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho; e Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, convém refletir sobre a importância cultural da “sétima arte”. Longe de ser um lugar comum, a expressão, criada nos primórdios do século XX pelo crítico italiano Ricciotto Canudo em seu Manifesto das Sete Artes, se baseia no fato de o cinema articular arquitetura, escultura, pintura, música, literatura e dança através do movimento, da narrativa e da emoção.
O cinema é muito mais do que uma tecnologia de projeção de imagens. Desde sua origem, no fim do século XIX, se consolidou como um dos principais meios de construção de narrativas culturais e identitárias. Filmes criam mitologias, questionam dogmas, reforçam ideologias ou as desestabilizam. Nesse vasto campo simbólico, a confluência entre cinema, religião e política revela-se particularmente rica — e, por vezes, explosiva. A tela, como espaço simbólico, transforma-se em arena de disputas onde se cruzam o sagrado, o profano, o poder e a resistência.
O fascínio do cinema pelas histórias religiosas é evidente desde seus primórdios. A Bíblia, por exemplo, inspirou dezenas de produções hollywoodianas que buscavam representar o divino com o esplendor técnico da sétima arte. Obras como Ben-Hur (1959), de William Wyler, e Os Dez Mandamentos (1956), de Cecil B. DeMille, não apenas retratam narrativas bíblicas. Evocam também valores morais alinhados a certo ideal cristão ocidental, frequentemente associado ao conservadorismo.
Ao longo de décadas, no entanto, essa representação do sagrado se expandiu para além da iconografia cristã. O cinema iraniano contemporâneo, por exemplo, oferece uma profunda reflexão sobre a relação entre espiritualidade e vida cotidiana no contexto islâmico. Filmes como O Balão Branco (1995), de Jafar Panahi, ou A Separação (2011), de Asghar Farhadi, embora não sejam "religiosos" em sentido tradicional, abordam a fé como parte intrínseca da experiência humana em sociedades teocráticas ou fortemente religiosas.
Também é preciso mencionar obras que abordam religiosidades de matrizes africana e indígena, muitas vezes marginalizadas ou estigmatizadas. Filmes como O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, e M8 – Quando a Morte Socorre a Vida (2019), de Jeferson De, revelam tensões entre o sincretismo religioso brasileiro e a intolerância institucionalizada.
Todo filme, mesmo aquele que se proclama “neutro”, é uma produção política. A escolha de temas, personagens, ângulos e finais carrega intencionalidades — conscientes ou não — sobre como o mundo deve ser interpretado. O cinema pode ser usado como instrumento de dominação, como na propaganda nazista de Leni Riefenstahl (O Triunfo da Vontade, 1935), ou veículo de resistência, como o neorrealismo italiano pós-Segunda Grande Guerra.
Na América Latina, a interseção entre cinema e política é historicamente marcada pela denúncia social. O Cinema Novo brasileiro, produzido por Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, rompeu com os padrões narrativos de Hollywood para representar o povo marginalizado, a violência estrutural e os conflitos de classe. Glauber, em especial, propôs uma “estética da fome”. No seu entender, o cinema latino-americano deveria causar incômodo, provocar reflexão e despertar consciência política.
Nas últimas décadas, movimentos conservadores tentaram desqualificar esse tipo de produção, acusando-a de “ideológica”, e promovem filmes com conteúdos alinhados a pautas religiosas ou xenofóbicas. Assim, o cinema torna-se território de disputa entre projetos de sociedade antagônicos.
O casamento entre religião e política, embora não seja uma novidade, tem se intensificado em várias democracias contemporâneas. Em muitos países, grupos religiosos organizados têm buscado não apenas influenciar políticas públicas, mas também controlar os meios de produção cultural. O cinema, por sua capacidade de alcance e impacto emocional, torna-se assim um alvo privilegiado dessas tentativas. Ao mesmo tempo, cineastas críticos têm produzido obras que desmontam essa aliança entre fé e poder. O documentário brasileiro Apocalipse nos Trópicos (2024), de Petra Costa, investiga os bastidores de igrejas neopentecostais que operam como corporações, revelando relações promíscuas com figuras políticas. Já Spotlight (2015), de Tom McCarthy, vencedor do Oscar de Melhor Filme, denuncia o encobrimento sistêmico de abusos sexuais por parte da Igreja Católica.
Esses filmes mostram que a crítica à religião institucionalizada não é um ataque à fé pessoal, e sim uma forma de responsabilizar estruturas que se escudam no sagrado para manter privilégios ou praticar abusos. O cinema, nesses casos, atua como forma de justiça simbólica e ampliação do debate público.
É importante também reconhecer o crescimento de um nicho cinematográfico que busca explicitamente evangelizar. Filmes ianques como Deus Não Está Morto (2014), de Harold Cronk, ou Você Acredita? (2015), de Jon Gunn, combinam narrativa simplificada, dicotomias morais rígidas e finais edificantes para reforçar valores cristãos conservadores. Embora esses filmes sejam criticados pela superficialidade ou maniqueísmo, revelam algo fundamental: a percepção, por parte de grupos religiosos, do poder do cinema como ferramenta pedagógica, moralizante e política.
No Brasil, esse modelo tem sido replicado com apoio de setores evangélicos e políticos que buscam formar um “cinema de direita” ou “cristão”. Essa produção, muitas vezes subsidiada por recursos públicos por meio de emendas parlamentares, reforça a presença de grupos religiosos organizados na esfera cultural, e amplia a disputa em torno da narrativa nacional.
Se, por um lado, há a tentativa de capturar o cinema como meio de propaganda religiosa, por outro existe um conjunto crescente de filmes que abordam a espiritualidade de forma crítica, simbólica e plural. O cinema de Terrence Malick, por exemplo, é conhecido por sua estética contemplativa e explorar temas como graça, sofrimento e transcendência (A Árvore da Vida, 2011). Filmes como Silêncio (2016), de Scorsese, e Homens e Deuses (2010), de Xavier Beauvois, abordam o drama da fé em contextos de perseguição, e o conflito entre a salvação individual e a ética coletiva.
Em outras frentes, o cinema indígena brasileiro, representado por diretores como Takumã Kuikuro, de As Hiper Mulheres (2011), e A Queda do Céu (2024), de Gabriela Carneiro da Cunha e Eryk Rocha, propõem uma visão cosmológica profundamente diferente, em que espiritualidade, natureza e coletividade estão entrelaçadas. Essas obras não apenas representam religiões diversas, mas também convidam a uma reinterpretação dos modos de existir, crer e resistir. Mostram que o cinema pode ser espaço de acolhimento, espiritualidades não hegemônicas e visões de mundo não coloniais.
A interseção entre cinema, religião e política é um dos territórios mais intensos da vida cultural contemporânea. Evidencia como as narrativas que consumimos moldam não apenas o imaginário coletivo, mas também os comportamentos individuais e as escolhas políticas. O cinema pode servir à opressão ou à libertação; pode doutrinar ou despertar; pode reproduzir dogmas ou questioná-los. Nesse cenário, torna-se vital defender a pluralidade artística, a liberdade de expressão e o acesso democrático aos meios de produção audiovisual.
Promover filmes que abordem a fé de forma crítica e inclusiva, que tratem a política com complexidade e não temam o sagrado como fonte de reflexão — e não de controle — é um caminho necessário para fortalecer a democracia e a cultura. Mais do que uma indústria, o cinema é espelho da alma coletiva. E como tal, deve refletir e projetar um mundo mais justo, diverso e consciente.
Leia mais
- O Evangelho da Revolução, retrato impactante da América Latina. Artigo de Frei Betto
- “Ainda Estou Aqui” e a representação da ditadura militar no cinema brasileiro. Entrevista especial com Fernando Seliprandy
- As inverdades sobre Walter Salles para desacreditar o “Ainda estou aqui”. Artigo de Luís Nassif
- Como 'Ainda Estou Aqui' superou briga política e virou sucesso comercial. Artigo de Inácio Araujo
- "O papel do cinema e da literatura é lembrar". Entrevista com Marcelo Rubens Paiva
- Por que Petra Costa fez um ótimo trabalho no documentário “Apocalipse nos Trópicos”? Artigo de André Anéas
- “Apocalipse dos Trópicos” e a religião – essa grande desconhecida sobre a qual muito se fala. Artigo de Wellington Teodoro da Silva
- O Agente Secreto: Pra não morrer na praia. Artigo de Luiz Eduardo Soares
- Banco de sangue na Quarta-feira de Cinzas: análise crítica de “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho. Comentário de Bruno Marra
- O Agente Secreto: Dias quentes num país brutal. Comentário de José Geraldo Couto
- Os 10 melhores filmes do cinema espiritual de 2024: um ano medíocre, embora com algumas pérolas. Artigo de Peio Sánchez
- Cinema e mística: um caminho possível ao Divino. Entrevista especial com Angelo Atalla
- Cinema e transcendência. Um debate. Revista IHU On-Line, Nº. 412
- Cinema e religião: as sutis alterações causadas na teologia tradicional. Entrevista especial com Luiz Vadico
- Bergman e os ''teólogos'' do cinema. Artigo de Gianfranco Ravasi
- 11 filmes para entender a Ditadura Militar no Brasil