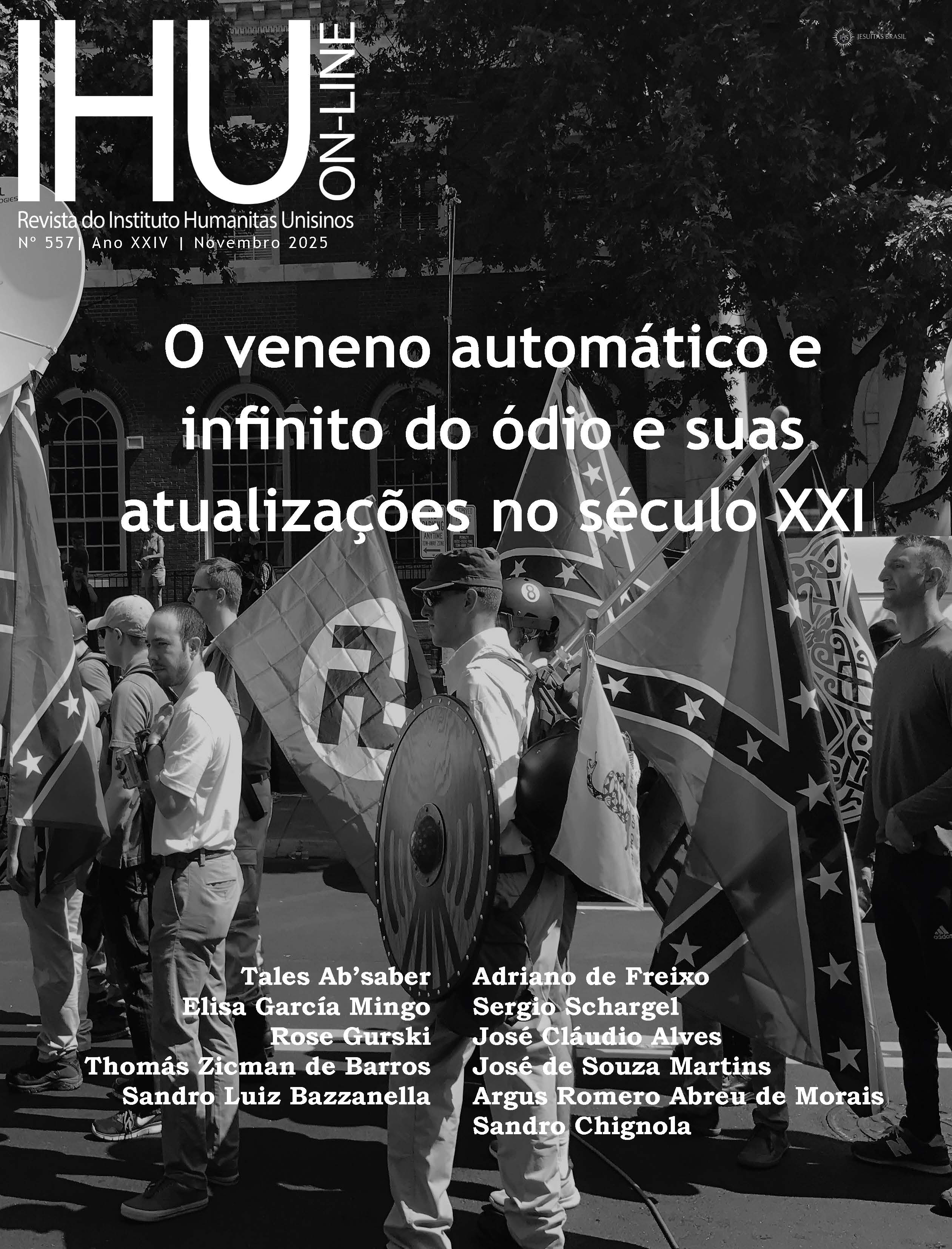25 Novembro 2025
"O tecnoterrorismo funciona (...) como um espelho quebrado, com seus fragmentos de ameaças ampliadas, como sombras de máquinas onipotentes, distorce tendências e oculta o fato essencial de que as tecnologias atuais não substituem o trabalho: elas o parasitam", escreve Erick Kayser, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
Eis o artigo.
A retórica sobre um suposto colapso ocupacional provocado por tecnologias chamadas de Inteligência Artificial (IA) tem ocupado um espaço inesperadamente central em discursos empresariais, consultorias globais e veículos especializados. Fala-se em “fim de profissões”, “extinção de funções” e “substituição inevitável do trabalho humano”, como se estivéssemos às vésperas de um salto tecnológico capaz de remodelar toda a estrutura produtiva. Entretanto, esse discurso não se apresenta apenas como prognóstico técnico, mas como instrumento político. Ele opera como intimidação simbólica, produzindo ansiedade social e moldando expectativas de trabalhadores sobre seu próprio futuro. É esse mecanismo que chamaremos aqui de tecnoterrorismo: uma narrativa futurista que amplifica ameaças hipotéticas para mascarar as contradições muito concretas do presente.
O tecnoterrorismo funciona como um espelho quebrado manejado pelo capital tecnológico: cada caco devolve uma imagem ampliada do perigo, mas nunca permite enxergar a totalidade. Em vez de descrever realisticamente o que a IA é capaz de fazer, projeta fantasias hiperbólicas que servem para legitimar a precarização, pressionar salários e justificar reformas regressivas. Essa dramatização do “amanhã” protege o capital de encarar dilemas estruturais do “hoje”: baixa produtividade, estagnação econômica e modelos de negócios incapazes de gerar valor duradouro.
A genealogia desse discurso pode ser observada desde a ascensão do “capitalismo de plataforma”, cujo caso paradigmático é a Uber. Vendida como revolução tecnológica, a empresa tornou-se o maior experimento contemporâneo de desvalorização do trabalho sob o pretexto da inovação. Sua expansão dependeu de tarifas artificialmente baixas, sustentadas por aportes bilionários de capital especulativo, que visavam eliminar concorrentes e capturar mercados. O resultado é conhecido: precarização profunda, algoritmos definindo remunerações, jornadas extenuantes e transferência integral dos riscos ao trabalhador. A empresa, mesmo após anos de operação global, só alcançou rentabilidade contábil recentemente mediante engenharia financeira e precarização extrema, carregando ainda um passivo de prejuízos históricos. Demonstrando a contradição fundamental de um negócio que, embora onipresente, não consegue gerar lucro consistente em seu cerne.
Como mostra o economista canadense Nick Srnicek em Platform Capitalism (2016), essas empresas não inauguram um modelo econômico mais eficiente, mas surgem como destino privilegiado para o capital excedente em períodos de juros baixos e poucas alternativas de investimento. A suposta inovação é, em grande medida, uma fuga para frente, uma tentativa de compensar a falta de rentabilidade estrutural com narrativas de disrupção. Esse mesmo mecanismo reaparece na atual onda de investimentos em IA.
O caso da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, é paradigmático: possui um valor de mercado estimado em US$ 500 bilhões, uma cifra astronômica quando contrastada com sua receita anual de aproximadamente US$ 13 bilhões. Esta disparidade é a expressão numérica de uma bolha. Um estudo do MIT (2025) indicou que 95% dos investimentos em IA não geram retorno. Relatório da McKinsey, também deste ano, adverte que apenas 1% das empresas que adotam a tecnologia acreditam ter atingido maturidade em seu uso. O dinheiro flui não pelos resultados presentes, mas por uma aposta em um potencial futuro e distante. O investimento, portanto, não se sustenta na performance, mas na crença autorreferente de que os lucros virão “em algum momento”.
Esse tipo de aposta configura o que François Chesnais chamou de capital fictício: riqueza que se valoriza no papel, mas que carece de correspondência material na economia real. O atual circuito econômico da IA chega a ser circular: a Nvidia injeta bilhões na OpenAI, que por sua vez usa esses recursos comprando mais chips da própria Nvidia, criando um loop financeiro. O processo alimenta expectativas, mas não cria valor, apenas o simula. É um ciclo típico de instabilidade, no qual a promessa de retorno futuro serve de combustível para inflar avaliações presentes. Essa dependência de expectativas futuras é justamente o que torna a narrativa tecnoterrorista tão funcional: ao anunciar que a IA extinguirá milhões de empregos, ela legitima a continuidade do fluxo especulativo e produz uma atmosfera de inevitabilidade, necessária para manter a bolha respirando.
Um dos pilares ideológicos mais persistentes é a afirmação de que a IA inevitavelmente substituirá trabalhadores por ser “mais barata”. Essa visão desconsidera que a tecnologia opera sobre uma infraestrutura de custos massivos e crescentes. Em outras palavras, o mito da IA “mais barata” ignora seus custos materiais e limites ecológicos para universalização.
Como demonstra Kate Crawford em Atlas da IA (2025), “a inteligência artificial não é artificial nem inteligente: ela depende de recursos naturais, trabalho humano e vastas infraestruturas industriais. Cada sistema de IA é construído sobre intensas extrações de matéria, energia e trabalho”. Data centers consomem quantidades imensas de energia elétrica e água potável para resfriamento contínuo; disputam recursos com cidades, agricultura e ecossistemas inteiros; ampliam cadeias de mineração e extração; fortalecem zonas de sacrifício ambiental.
A fantasia de automação total colide com a materialidade titânica da IA. Escalar esses sistemas globalmente não é apenas financeiramente oneroso: é ecologicamente insustentável. Cada avanço técnico exige crescimento exponencial da infraestrutura, da energia e da água, uma demanda insustentável num planeta já tensionado por crises hídricas e energéticas. O que se apresenta como “eficiência futurista” é, na verdade, uma intensificação do extrativismo.
Ao mesmo tempo, a utilidade concreta da IA permanece limitada. Apesar da exuberância discursiva, a IA atual opera majoritariamente como um sistema de recombinação estatística de dados, incluindo textos, imagens, códigos e sons produzidos previamente por milhões de pessoas. Essa habilidade, capaz de rapidamente popularizar a ferramenta, no entanto, gera efeitos econômicos muito limitados. Seu funcionamento pressupõe um conhecimento coletivo acumulado da humanidade (trabalho morto) que busca ser apropriado e transformado em mercadoria. A IA opera um “cercamento” digital dos comuns, privatizando o conhecimento socialmente produzido (o Intelecto Geral marxiano), convertendo o saber coletivo da humanidade em mercadoria proprietária para extração de renda.
Do ponto de vista da crítica da economia política, a IA não cria valor novo e isso é decisivo para o seu real potencial futuro. Ela apenas transfere ao produto o valor já incorporado nas máquinas e no trabalho pretérito que compõe seus dados e sua infraestrutura. Seu caráter inovador é técnico, não produtivo. Embora sacudam setores culturais, comunicacionais e informacionais, não revolucionam as bases materiais da produção de valor. O capital só se expande através do trabalho vivo, único capaz de produzir mais-valor. A automação em larga escala eleva a composição orgânica do capital e pressiona a taxa de lucro para baixo, fenômeno estrutural que nenhuma “inteligência artificial” conseguiu resolver.
Por isso, o chamado capitalismo digital funciona como drenagem permanente da economia produtiva, desviando capitais para setores que não geram valor, apenas o redistribuem e concentram. Trata-se de um movimento em que vastas quantias são deslocadas para atividades cuja rentabilidade depende menos da produção material e mais da captura de dados, da especulação financeira e da extração de renda monopolista. Em vez de ampliar a capacidade produtiva da sociedade, essas plataformas absorvem recursos que poderiam ser investidos em setores geradores de riqueza real, canalizando-os para modelos de negócio sustentados por expectativas infladas, efeitos de rede e promessas futuristas. Eles querem se tornar a infraestrutura inevitável (como estradas ou eletricidade) para extrair taxas de todo o resto da economia. O seu resultado é um ecossistema econômico cada vez mais predatório, no qual a acumulação se realiza não pela criação de valor, mas pelo bloqueio, intermediação e apropriação de fluxos já existentes.
Fazendo aqui um breve exercício especulativo, desconsiderando todas as questões apontadas antes da inviabilidade de uma substituição total (ou mesmo massiva) do trabalho vivo por máquinas. Imaginemos que isso seja mesmo possível. O resultado seria algo bem distante dos sonhos apologéticos deste caminho para salvar o capitalismo de sua crise. A substituição integral do labor humano configura um paradoxo autodestrutivo, pois o desemprego sistêmico drenaria a liquidez dos consumidores, impossibilitando a venda das mercadorias produzidas pelas próprias máquinas. Essa desconexão entre produção otimizada e demanda inexistente geraria uma crise de superprodução fatal, provando que o capitalismo não sobrevive sem a circulação de renda via salários; sociologicamente, esse colapso econômico desmantelaria a ordem pública necessária para garantir a propriedade privada e o funcionamento dos mercados.
Tecnoterrorismo como disciplinamento do trabalho
É nesse cenário de fragilidade estrutural que o tecnoterrorismo cumpre sua função ideológica. Ao difundir a profecia da obsolescência do trabalho humano, empresas moldam comportamentos, criam insegurança e estimulam resignação. O medo de substituição reduz resistência sindical, enfraquece reivindicações salariais e naturaliza jornadas extensas, terceirizações e informalidade. A promessa (ou ameaça) de que a IA varrerá empregos em massa serve menos para descrever o futuro do trabalho do que para moldar o comportamento dos trabalhadores no presente.
Todavia, o disciplinamento não opera apenas através do medo da exclusão, mas pela subordinação direta. Nos postos de trabalho que permanecem, a tecnologia se impõe como ferramenta de gestão algorítmica, atuando como um capataz digital onipresente. Longe de libertar o humano de tarefas repetitivas, sistemas de IA monitoram produtividade em tempo real, cronometram pausas e ditam o ritmo da produção, seja em galpões logísticos ou em escritórios corporativos. A tecnologia serve, assim, para intensificar a extração de mais-valor, retirando a autonomia do trabalhador e submetendo-o a uma cadência maquínica desumanizante.
Parte do relativo sucesso deste discurso se dá pela posição privilegiada de difusão discursiva de seus principais ideólogos, a serviço dos detentores dos meios comunicacionais de massa. “As empresas digitais não apenas preveem comportamentos; elas os moldam. Seu poder deriva da assimetria radical entre o que sabem sobre nós e o que sabemos sobre elas” aponta a pesquisadora americana Shoshana Zuboff em A Era do Capitalismo da Vigilância (2021). Essa desigualdade informacional permite orientar condutas e expectativas de forma quase cirúrgica.
Esse mecanismo ideológico não se limita ao Vale do Silício; ele reconfigura políticas nacionais. O Brasil ilustra essa dinâmica: a Reforma Trabalhista de 2017, apresentada como modernização necessária das relações laborais diante das “novas tecnologias” e para gerar empregos, consolidou um arcabouço de precarização, informalidade e fragilização da proteção social. Nesse sentido, o tecnoterrorismo não é apenas retórica: é programa político. Um projeto que tem em seu centro a busca por intensificar a exploração e transferir renda do trabalho para o capital, escudando-se na figura espectral da máquina que tudo fará.
Conclusão: romper o espelho quebrado
Os sinais de que a bolha da IA se aproxima de um ponto de saturação são cada vez mais visíveis: hesitações de investidores, relatórios cautelosos e declarações contraditórias de líderes do setor. Ainda assim, a narrativa tecnoterrorista persistirá enquanto for útil para pressionar trabalhadores e manter fluxos especulativos
O futuro não será o do fim do trabalho, mas o da disputa pela reafirmação de que toda riqueza depende, irremediavelmente, do esforço humano. Se há algo que a crise das plataformas e a escalada dos custos da IA demonstram é que nenhuma tecnologia, por mais espetacular que pareça, consegue suspender as determinações fundamentais da produção capitalista. Tecnologias verdadeiramente transformadoras não se sustentam sobre bolhas financeiras e exploração, mas na capacidade de, integradas ao trabalho humano, produzir valor real e compartilhado.
O tecnoterrorismo funciona, portanto, como um espelho quebrado, com seus fragmentos de ameaças ampliadas, como sombras de máquinas onipotentes, distorce tendências e oculta o fato essencial de que as tecnologias atuais não substituem o trabalho: elas o parasitam. Reconhecer essa contradição é o primeiro passo para desmontar a fantasia de inevitabilidade tecnológica e impedir que trabalhadores sejam transformados em figurantes descartáveis de um futuro que jamais se realizará.
Leia mais
- O trabalho na era da inteligência artificial
- “Se a gente não lutar, nossos filhos e nossos netos serão escravos digitais”. Entrevista com Ricardo Antunes
- O mundo do trabalho de pernas para o ar. “A fronteira entre a vida pessoal e o trabalho não existe mais”. Entrevista com Jean-Philippe Bouilloud
- “Se para sobreviver você precisa trabalhar 50 ou 60 horas por semana, a liberdade é muito limitada”. Entrevista com Nick Srnicek
- PL dos Aplicativos: urge evitar a iminente derrota cabal dos/as trabalhadores/as. Entrevista especial com Ricardo Antunes
- Icebergs à deriva. Artigo de Ricardo Antunes
- Indústria 4.0: quando a escravidão digital domina o mundo do trabalho
- Capitalismo virótico. Artigo de Ricardo Antunes
- Dois anos de desgoverno – a política da caverna. Artigo de Ricardo Antunes
- A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. Entrevista especial com Ricardo Antunes
- Trabalho virtual? Artigo de Ricardo Antunes
- O proletário digital na era da reestruturação permanente do capital. Entrevista especial com Ricardo Antunes
- Brasil tem 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos; 35,7% contribui para a previdência. Entrevista especial com Gustavo Fontes
- IBGE: país tem 2,1 milhões de trabalhadores por aplicativo
- Vínculo empregatício entre trabalhadores de plataformas e empresas é básico para avanço na proteção da categoria. Entrevista especial com Felipe Moda
- Todo motorista é contra regulamentação dos aplicativos, até ser bloqueado, avalia sindicato