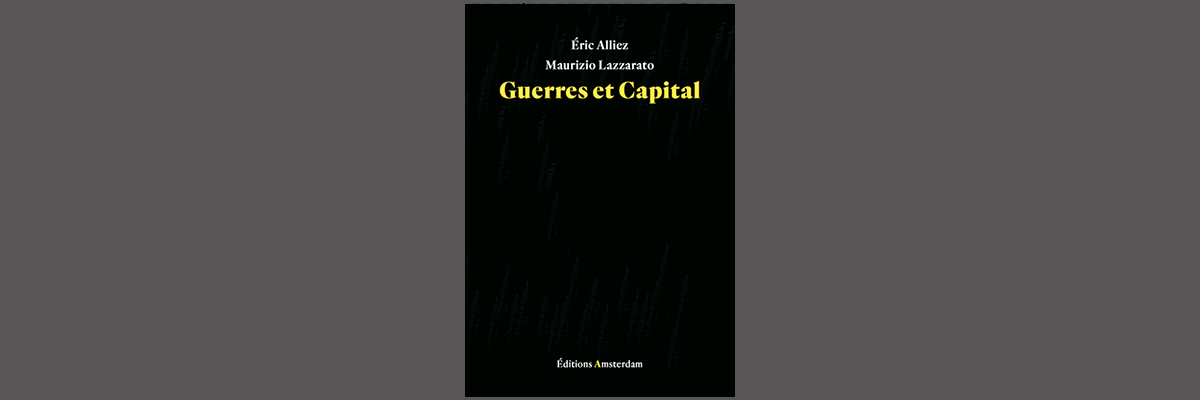09 Agosto 2025
"Duas guerras continuam sem interrupção há dezenas de meses — duas guerras que sequer é correto chamar de guerras — e continuam com a matança diária e deliberada de civis, com hospitais sendo alvejados, com a fome. Modalidade que no passado teriam sido escondidas nos recantos mais vergonhosos das guerras civis, mas que se tornaram a regra de ação de Estados soberanos".
O artigo é de Paolo Giordano, escritor italiano, publicado por Corriere della Sera, 07-08-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis o artigo.
Oitenta anos após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, ainda se fala da inevitabilidade histórica daquelas ações. Sem os ataques atômicos, o Japão não teria se rendido, a guerra teria continuado por muito mais tempo, com uma perda maior de vidas, etc.
Como tese, não é apenas contrafactual: provavelmente também é falsa. E mesmo que a quiséssemos tomar em consideração para a primeira bomba, a de Hiroshima, ainda assim não valeria para aquela de Nagasaki, que foi pura obstinação, sede de destruição. A inevitabilidade histórica, o que nos tranquiliza um pouco, é um conceito perigoso, tanto naquela época quanto hoje.
Associações de sobreviventes dos bombardeios atômicos têm promovido uma forma de memória proativa desde o início, que olha para o presente e o futuro, mais que para a comemoração do sofrimento sofrido. Em suma, são ativistas. A melhor maneira de falar sobre agosto de 1945, então, parece ser imitá-los, questionando-nos sobre o que as bombas de oitenta anos atrás dizem sobre o mundo de hoje. Um mundo em guerra. E a categoria resistente da inevitabilidade me parece precisamente o elo entre os eventos de então e aqueles atuais.
Netanyahu, maio de 2025: a nossa é "uma guerra necessária, moral e justa. Uma guerra do bem contra o mal".
Kim Jong Un a Vladimir Putin, setembro de 2023: "O exército e o povo russos triunfarão sobre o mal".
Declarações semelhantes podem ser encontradas aos montes. Por outro lado, a Europa e os Estados Unidos lutam há quase trinta anos contra "o mal absoluto do terrorismo" em suas múltiplas encarnações e insistem, a cada oportunidade, sobre a presença de um "eixo do mal", do qual fariam parte a Federação Russa, o Irã e a Coreia do Norte, mas dentro do qual outros já transitaram no passado recente.
A presença de um "mal absoluto" — ou melhor, de um "Mal" com letra maiúscula — é o pré-requisito fundamental da inevitabilidade e é central no imaginário coletivo, em todos os lugares, pelo menos desde 2001. Porque, se existe um mal absoluto, então também existe um bem absoluto capaz de derrotá-lo. Que, mais ainda, é obrigado a fazê-lo. O mal absoluto deve ser extirpado, erradicado, aniquilado. Se espreita nos túneis de Gaza, então Gaza deve ser arrasada. Se está entrincheirado nas siderúrgicas de Azovstal, então toda a Ucrânia deve ser queimada. É inevitável.
Mas o "mal absoluto" traz consigo não apenas o princípio da inevitabilidade. Também produz uma forma de cegueira seletiva. Cada conflito e cada ação específica dentro dos conflitos deixa de ser considerada como tal, justa ou injusta, ética ou criminosa; não vale mais a pena, porque todo discernimento é engolido pelo princípio geral de uma guerra entre forças do bem e forças do mal.
E a ideia do mal absoluto — esse é o detalhe mais crucial — não está apenas no coração de líderes e generais do exército: é invasiva, diz respeito a cada um de nós, também no nosso cotidiano. É uma atitude em relação às coisas e às ideias, uma maneira de se posicionar nos debates. O mal contra o bem, sempre e de qualquer forma. Deste lado ou daquele.
O New York Times conta que, no Japão, está ganhando espaço a ideia de que uma militarização do país seria necessária. Não apenas por causa das ambições expansionistas da China, mas porque os Estados Unidos, que impuseram o desarmamento ao Japão e simultaneamente prometeram defendê-lo, estão menos confiáveis do que nunca. Assim, o país que, nos últimos oitenta anos, defendeu uma ideia radical de pacifismo, desenhou milhões de bandeiras de arco-íris ao redor dos memoriais das bombas e dobrou uma infinidade de origami de tsurus, está lentamente se desviando para um futuro belicista.
Por razões semelhantes, a Europa está alocando fundos para o rearmamento, e assim por diante. O curso atual da história já está bastante claro; cada um está se preparando. Para o quê exatamente? Para um cenário de conflito maior. Não precisa necessariamente ser chamado de Terceira Guerra Mundial (assumindo que os focos ativos ainda não o sejam); na verdade, seria melhor evitá-lo. Porque a "Guerra Mundial" é outro conceito absoluto que nos impede de examinar os detalhes e sua gravidade específica.
E, no entanto, no rearmamento coletivo, o que falta completamente é um debate supranacional sobre como a guerra deveria ser travada. Com quais regras, com quais armas, com quais proteções para os civis, com quais perspectivas realistas que não sejam a destruição do "maligno", com quais tabus. Em suma, aqueles princípios que pareciam estabelecidos de uma vez por todas justamente após as bombas atômicas sobre o Japão.
Duas guerras continuam sem interrupção há dezenas de meses — duas guerras que sequer é correto chamar de guerras — e continuam com a matança diária e deliberada de civis, com hospitais sendo alvejados, com a fome. Modalidade que no passado teriam sido escondidas nos recantos mais vergonhosos das guerras civis, mas que se tornaram a regra de ação de Estados soberanos. Deveríamos começar a nos perguntar o porquê, para além da insensatez dos governos e dos presidentes envolvidos. Caso contrário, por que teríamos cultivado por décadas, todos nós, em nosso pequeno imaginário, a ideia de um “mal absoluto” a ser derrotado, e da licitude de todo meio para alcançar tal fim? A ideia, totalmente atômica, de que em circunstâncias excepcionais também a violência sem limites seria inevitável?
Leia mais
- A aceleração dos conflitos em Gaza e na Ucrânia. Artigo de Hugo Albuquerque
- Gaza, Ucrânia e o desmoronamento da ordem mundial baseada em regras
- “Na Ucrânia, paz sem humilhações. A tragédia de Gaza é inaceitável”. Entrevista com Pietro Parolin
- A causa palestina na geopolítica do sul global. Artigo de Martín Martinelli e Peiman Salehi
- Gaza não complica apenas a Ucrânia. Artigo de Rafael Poch
- Guerras na Ucrânia e em Gaza impulsionam comércio de armas
- Da Ucrânia a Gaza. Não existe guerra limpa. Artigo de Mario Giro
- Eis de volta a “guerra justa” de Michael Walzer
- Quando a guerra não é mais justa. As interpretações da Igreja durante a história. Artigo de Daniele Menozzi
- A Ucrânia divide os Estados Unidos. Artigo de Manuel Castells
- O mundo pede a paz. Como acabar com a guerra na Ucrânia
- O “mau momento” de Zelensky. Artigo de Seymour Hersh
- Nota sobre a ofensiva da Ucrânia. Artigo de Caio Bugiato
- Os ucranianos enviados à morte
- A desumanização dos palestinos pela sociedade israelense já é absoluta
- Israel faz discurso de defesa, mas comete crimes de guerra representando interesses do Ocidente, diz especialista
- “Guerra total”: O que disseram Israel, EUA, Líbano e Irã no Conselho de Segurança da ONU
- Oriente Médio: véspera da paz ou da guerra? Artigo de Riccardo Cristiano