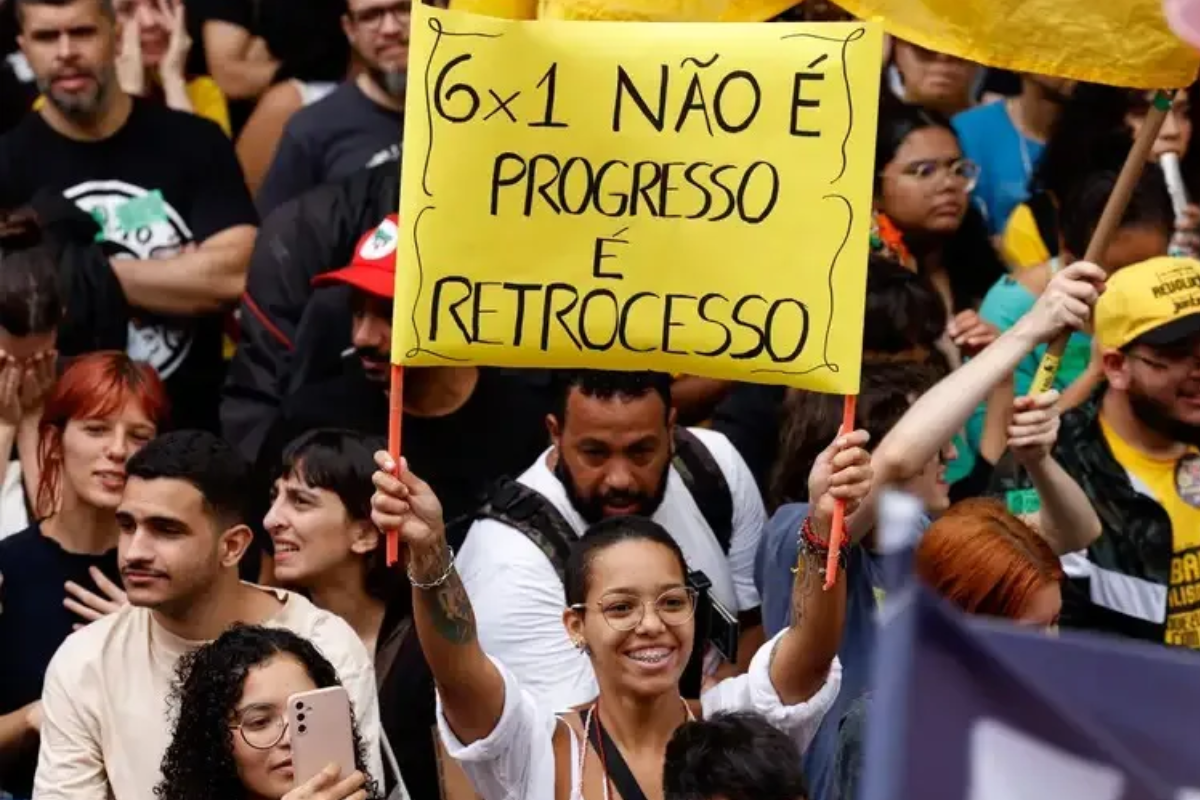Por: Patricia Fachin | Edição: Vitor Necchi | 17 Janeiro 2018
As rebeliões ocorridas no Complexo Prisional de Goiás em janeiro devem ser compreendidas “como mais um capítulo da violência que ocorre dentro das prisões brasileiras e que, historicamente, tem gerado banhos de sangue”, pondera a socióloga Camila Nunes Dias. Na sua análise, não é difícil compreender a gênese deste problema. “A violência, a violação de direitos básicos, o sofrimento atroz são a tônica dessas instituições”, afirmou em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. “Encarceramento mata” – principalmente jovens pobres e negros, destacou a pesquisadora.
Quando eclodem esses conflitos, a versão mais corrente, principalmente na mídia, é que se tratam de guerras entre grupos como o Primeiro Comando da Capital – PCC e o Comando Vermelho – CV, que disputam “a enorme massa carcerária que o Estado brasileiro criou e que vem fazendo crescer vertiginosamente”. Dias salienta, no entanto, que “a atuação destes grupos, sua expansão e as possibilidades para a eclosão dos conflitos são de inteira responsabilidade do Estado, nas esferas legislativa, executiva e, principalmente, judiciária”.
No entendimento da especialista, quando as autoridades responsáveis pelos presídios responsabilizam as facções criminosas pela violência dentro dos estabelecimentos estão, na verdade, tirando o corpo fora. “A responsabilidade, antes de tudo, é do Estado.” E nos estados onde determinada facção se tornou hegemônica, como o PCC em São Paulo, verifica-se uma situação paradoxal de pacificação, porque desapareceram as disputas por ponto de venda de drogas. “O PCC assumiu o papel de uma agência reguladora dentro e fora das prisões. Quaisquer conflitos que possam envolver violência passaram a ser regulados e gerenciados por eles. Esse processo fez com que os homicídios despencassem em São Paulo”, analisa a socióloga.
Camila Nunes Dias tem licenciatura plena (2002), mestrado (2005) e doutorado (2011) em Sociologia pela Universidade de São Paulo – USP. É professora da Universidade Federal do ABC – UFABC, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência – NEV da USP e associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Como devemos interpretar as rebeliões que aconteceram em janeiro no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás?
Camila Nunes Dias – A rebelião deve ser compreendida como mais um capítulo da violência que ocorre dentro das prisões brasileiras e que, historicamente, tem gerado banhos de sangue. A violência, a violação de direitos básicos, o sofrimento atroz são a tônica dessas instituições. Encarceramento mata. E mata de várias formas: pela falta de assistência médica, pela falta de medicamentos, de comida, de higiene. E mata também pelos conflitos gerados numa situação caótica e trágica impostos aos jovens pobres e negros em sua ampla maioria que são encarcerados e apinhados em espaços sujos, exíguos, fedorentos, nojentos. A necessidade de proteção e sobrevivência nestes espaços só seria possível pela criação de grupos que garantissem um dia a dia na prisão com maior previsibilidade.
Além disso, os presos perceberam que, se não se unissem, poderiam ser exterminados pelo Estado – o papel do massacre do Carandiru foi exemplar. A política de encarceramento (na qual o racismo institucional é um componente central) e a violência do Estado (dentro e fora das prisões) criou e fortaleceu as facções. E, neste momento, há uma sangrenta disputa entre grupos, e essa disputa tem provocado as situações que vimos em 2017 e, agora, em 2018.
IHU On-Line – Na mídia, tem se falado que a rebelião foi motivada por uma disputa entre PCC e Comando Vermelho. É isso mesmo? Quais sãos as causas envolvidas na disputa entre PCC e CV?
Camila Nunes Dias – Parte da resposta está acima. Há o conflito entre PCC e CV, e foram presos vinculados a um desses grupos que atacaram os rivais. Contudo, a atuação destes grupos, sua expansão e as possibilidades para a eclosão dos conflitos são de inteira responsabilidade do Estado, nas esferas legislativa, executiva e, principalmente, judiciária. Portanto, a associação simples a disputas das facções é feita, na maioria das vezes, pelas autoridades responsáveis pelos estabelecimentos para tirarem o corpo fora. A responsabilidade, antes de tudo, é do Estado.
O juiz que impõe ao sujeito que aguarde o julgamento preso, e isso deveria ser exceção; o juiz que impõe penas altíssimas a pessoas em situação de vulnerabilidade (maioria absoluta dos presos brasileiros) para condenados por crimes não violentos; o promotor, o juiz, gestor e/ou governador que recebe relatórios de inspeção que apontam as vulnerabilidades e os riscos de uma determinada unidade prisional e nada faz, e essa unidade, posteriormente, é palco de um massacre; agentes, diretores ou quem quer que seja que faça vista grossa por corrupção ou outros interesses para entrada de armas nas prisões, enfim: todas essas pessoas têm as mãos tão sujas de sangue quanto o preso que desferiu os golpes de faca que tirou a vida de seu rival. Ou, melhor: a mão está ainda mais suja, porque essas autoridades – na sua atuação institucional e cada um na sua esfera – acabam por produzir a situação que gera o desfecho tragicamente violento.
Não é algo que foge ao conhecimento dessas pessoas. Os riscos de se manter alguém preso por roubo de um celular, por exemplo, em uma unidade prisional como aquela de Goiânia – caso de um dos mortos – não pode ser desconhecido pelo juiz que determinou a prisão. Quanto aos gestores, é muito cômodo trazer soluções tiradas da cartola e, “coincidentemente”, após nove cadáveres (no caso mais recente, de Goiás) e algumas cabeças rolando. É – no mínimo – cínico um gestor dizer que não havia como prever e como evitar o que ocorreu, haja visto que há tempos podemos acompanhar os “prenúncios” desta carnificina. Portanto, essas pessoas – juiz, Ministério Público, secretário de Segurança Pública – deveriam ser responsabilizadas pela sua atuação ou omissão no sentido de permitir ocorrer o que ocorreu e, então, responder como coautoras de todos esses homicídios. E isso vale para TODOS esses casos de violência endêmica das prisões brasileiras.
IHU On-Line – Que relações podemos estabelecer entre a rebelião que ocorreu no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia com as que aconteceram no Rio Grande do Norte no mesmo período no ano passado?
Camila Nunes Dias – Pontualmente, a ruptura de convívio entre dois dos principais grupos que atuam em colaboração com o Estado para fazer a gestão das prisões brasileiras: o CV e o PCC. As razões históricas e estruturais estão esboçadas nas respostas anteriores.
IHU On-Line – Quais são hoje os principais pontos de disputa entre PCC e CV e quais são os interesses políticos e econômicos deles?
Camila Nunes Dias – O principal ponto de disputa é a enorme massa carcerária que o Estado brasileiro criou e que vem fazendo crescer vertiginosamente. É uma população “cativa” no sentido estrito do termo e que é disputada também por outros grupos, com interesses econômicos que muitas vezes são bastante próximos ao das facções, como, por exemplo, empresas que fornecem alimentação – imagine os lucros? Ou pelas empresas privadas de gestão prisional que há décadas buscam ansiosamente entrar neste lucrativo mercado. Quem não quer ter acesso privilegiado a esse imenso “mercado consumidor” de determinados tipos de produtos? Existe também uma disputa por mercados de drogas fora das prisões, mas, ao meu ver, não tem relação direta (apenas indireta) com os massacres que vêm ocorrendo nas prisões.
IHU On-Line – O secretário de Segurança de Goiás declarou que há dois anos o PCC decidiu atuar no Estado pela proximidade com Brasília e os poderes da União. Também se fala que líderes de facções têm proximidade com políticos e partidos. Que informações a senhora tem sobre estes temas? As facções têm influenciado no sistema político?
Camila Nunes Dias – Não ouvi essa fala do secretário e não posso dizer nada a respeito. Mas não vejo associação entre as facções e partidos políticos em específico. Também não entendo que as facções estejam ameaçando o funcionamento do sistema político, como vem se falando. É importante, nestes casos, avaliar quem fala e de onde fala. Muitas vezes há interesses em camuflar outros grupos criminosos muito mais poderosos e que, esses sim, estão entranhados e parasitando o sistema político, sugando recursos públicos do povo brasileiro há décadas e mais décadas.
Para dar um exemplo concreto, tenho certeza absoluta que a facção prisional mais poderosa que se possa imaginar jamais teria malas que guardassem R$ 51 milhões, como as que vimos e que, de acordo com o que foi divulgado na imprensa, pertenciam a um sujeito que é braço direito do presidente e figura central deste grupo que está tomando conta da máquina federal após o golpe ocorrido em 2016. Para não falar dos casos recentes de helicópteros com quase 500 quilos de cocaína e cujos casos chegam bem perto de pessoas poderosas da política brasileira: em um caso, o helicóptero e o piloto eram associados a um senador e a seu filho deputado e com cargo neste atual “governo”; no outro, o veículo apreendido estava em terras de um (atual) ministro. Imaginemos se um helicóptero desses fosse encontrado num barraco de uma favela em qualquer lugar do Brasil e o dono da propriedade dissesse que não sabia que ele estava ali? Será que seria assegurada a “presunção da inocência” de forma rápida e automática como a que vemos ser assegurada a pessoas que estão situadas no topo da pirâmide econômica, social e política? Mas ninguém falou mais nada do assunto... Enfim, voltando à questão: quando se fala do risco das facções entrarem no sistema político brasileiro, de que riscos especificamente estamos falando? Será que os grupos que lá estão nestas décadas – em alguns casos, as mesmas famílias há quase um século – querem “preservar” o sistema político ou bloquear a concorrência?
IHU On-Line – Quais são os riscos de o poder paralelo das facções estabelecer vínculos com o sistema político institucional?
Camila Nunes Dias – Vide resposta acima. Os riscos são aqueles a que assistimos hoje: talvez, um líder de facção, ser encontrado com quase R$ 60 milhões dentro de malas. Aliás, poder paralelo? Não. O poder das facções está diretamente conectado a setores do Estado, principalmente, através da corrupção. Não são linhas paralelas, neste caso. Há conexões. E as facções prisionais são apenas uma das formas através das quais o crime se organiza no Brasil. Elas nem são as mais organizadas – senão não teriam como base o sistema prisional –, nem as mais poderosas. A diferença é que por não disporem de outras opções para ganhar dinheiro de forma ilícita, os indivíduos que compõem as facções acabam se armando. Mas, se esses grupos tivessem acesso ao dinheiro público, por exemplo, as armas seriam desnecessárias.
Neste ponto, é tudo uma questão das opções que estão à disposição das pessoas: algumas podem acumular dinheiro ilícito sonegando impostos de sua fortuna; outros podem explorar seus empregados ou até utilizar o trabalho escravo para aumentar seus lucros; outros podem roubar dinheiro público das mais diversas maneiras; outros – cuja posição social não permite acesso a essas opções criminosas – podem ter que recorrer a uma arma de fogo ou a um simulacro, por exemplo. Em termos quantitativos, em geral esse último está muito atrás dos demais e são eles – e outros, do mesmo extrato socioeconômico e racial – que compõem a população encarcerada.
IHU On-Line – Muitos especialistas em segurança afirmam que o crime organizado é o pilar central que mantém essas facções. Qual é a centralidade do crime organizado na sobrevivência e na expansão dessas facções e que mercados e setores sustentam o crime organizado hoje no país?
Camila Nunes Dias – Eu não sei bem como a expressão “crime organizado” está sendo usada neste caso. Mas, se a referência é aos grupos de atuam no tráfico de drogas, sim, as facções que surgiram nos presídios no contexto de caos, superlotação e encarceramento se tornaram – ao menos algumas delas, como PCC, FDN [Família do Norte], CV – grupos relevantes no cenário do mercado de drogas brasileiro. Essas facções têm sua base econômica no comércio de maconha e derivados da coca (pasta base e cloridrato) e têm nas prisões a sua base política e logística – é local de recrutamento por excelência. Assim, por exemplo, sobre a nova “política” que o Tribunal de Justiça de São Paulo parece sinalizar com a mudança no departamento onde são feitas as audiências de custódia e que, segundo dados preliminares trazidos pela imprensa, elevou para 90% os casos de manutenção da prisão: não tenho dúvidas de que o PCC agradece muitíssimo aos magistrados que atuam nesta direção, pois é justamente essa a ideia e a forma pela qual se expande. Com certeza, o PCC deve estar muito grato por essa mudança.
IHU On-Line – A senhora e outros pesquisadores atribuem o crescimento e a hegemonia do PCC à pacificação do Estado. Em que sentido o Estado se pacificou? Pode nos dar alguns exemplos?
Camila Nunes Dias – A pacificação produzida a partir da hegemonia do PCC ocorre apenas nos casos em que ele é hegemônico, no caso, São Paulo é o exemplo mais emblemático. Muitos pesquisadores têm discutido isso nos últimos anos; então, para simplificar e não me estender muito: a partir das prisões, o PCC passou a se expandir para as cidades paulistas, pouco a pouco. A ideologia, o sentimento de pertencimento foram se espalhando, abrangendo outros espaços, e essas pessoas foram assumindo o varejo do comércio de drogas em São Paulo e, posteriormente, a distribuição para vários estados brasileiros.
A política de encarceramento em São Paulo foi angariando sempre mais e mais integrantes para o PCC e, ao saírem das prisões, esses indivíduos engrossaram as fileiras dos negócios da facção ao ponto em que ela se tornou hegemônica no Estado. Isso quer dizer que as “históricas” disputas por ponto de venda de drogas praticamente deixaram de existir porque esse comércio passou a estar quase que integralmente regulado pelo PCC. Ninguém podia mais matar ninguém por dívidas ou tomar o “ponto” de outro. O PCC assumiu o papel de uma agência reguladora dentro e fora das prisões. Quaisquer conflitos que possam envolver violência passaram a ser regulados e gerenciados por eles. Esse processo fez com que os homicídios despencassem em São Paulo, onde o PCC tem a hegemonia (ao menos por enquanto), e aumentado em estados onde há disputas e concorrências entre vários grupos – neste caso, o Rio Grande do Norte é emblemático.
IHU On-Line – No ano passado, durante as rebeliões que ocorreram no Rio Grande do Norte, muitos especialistas chamaram atenção para o fato de que a guerra das facções já está nas ruas. A senhora concorda? Como essa guerra tem se manifestado nas ruas? Ainda nesse sentido, qual é o peso do PCC?
Camila Nunes Dias – Com certeza. Cada vez mais se intensifica os processos que vão da prisão para a rua e da rua para a prisão. A ruptura entre CV, PCC e demais grupos, inevitavelmente, provocariam esse efeito nas ruas. Por conta do mecanismo disseminador que é o encarceramento, as facções acabam tendo peso importante na criminalidade nas ruas. Por exemplo, o PCC tem um papel preponderante nos roubos de cargas, bancos, carros-fortes, transportadores de valores em vários estados, inclusive em São Paulo. No caso dos estados em que mais de uma facção estão disputando o poder, esse processo que se origina nas prisões também transborda. Assim, pode-se afirmar que o mesmo processo que produz a pacificação em locais onde a competição pode ser suprimida é o que produz a violência em contextos de disputas.
Leia mais
- PCC financia igrejas e pode influenciar eleição, diz ex-desembargador
- Marcola, a traição e morte que rondam seu caminho rumo ao topo do PCC
- Os sinais que levam polícia a suspeitar de ligação do PCC com 'roubo do século' no Paraguai
- Sindicato do Crime RN, a dissidência do PCC que hoje é seu inimigo mortal
- "A guerra já está na rua". Facções não querem se submeter ao PCC e ocupam vazio deixado pelo Estado. Entrevista especial com Juliana Melo
- Alvo do PCC, Sindicato do Crime do RN domina 28 das 32 cadeias do Estado
- Funk atribuído a Família do Norte anuncia união com Comando Vermelho e que guerra com PCC 'só começou'
- Se o Estado age como o PCC, decidindo quem vive ou morre, como espera julgá-lo?
- Tabuleiro do crime: o jogo de xadrez por trás da guerra entre PCC e CV
- Ruptura entre PCC e Comando Vermelho pode gerar 'carnificina', diz pesquisadora
- Acordo pela paz entre PCC e Comando Vermelho derruba homicídios em Fortaleza
- Estado fez acordo com PCC para cessar ataques, diz depoimento
- Black bloc desmente entrevista em que relaciona tática do grupo ao PCC
- PCC: organização criminosa que pune desvios com a morte. Entrevista especial com Thadeu de Sousa Brandão
- "A lógica do PCC é a lógica da sociedade brasileira". Entrevista especial com José Claudio Alves
- Dos esquadrões ao PCC, 52 anos de violência mataram 130 mil pessoas
- PCC atua em 123 cidades paulistas
- CV semeia o caos no Rio em resposta a megaoperação policial
- Presídio Central de Porto Alegre e os coletivos criminais do Rio Grande do Sul. Entrevista especial com Marcelli Cipriani
- Galerias do terror. Documentário Central radiografa presídio que já foi considerado o pior do Brasil
- Massacre de Manaus joga luz sobre o negócio dos presídios privados no Brasil
- Dias antes de chacina, detentos denunciaram corrupção em presídio do Amazonas
- Uma pessoa é assassinada a cada dia em presídios no Brasil
- Gestão terceirizada de presídio facilitou massacre de Manaus, dizem peritos
- Do Carandiru a Manaus, Brasil lota presídios para combater tráfico sem sucesso
- 'É uma fábrica de tortura, que produz violência e cria monstros', diz padre que visitou presídio
- Carnificina em presídio de Roraima poderia ter sido muito maior
- Denúncias de tortura em presídios não afetam responsáveis, diz relatório
- Especialistas pedem a rejeição de proposta que privatiza presídios brasileiros
- 'Presídios do País são masmorras medievais', diz ministro da Justiça
- Evangélicos compõem a maioria nos presídios, mostra pesquisa
- “A vida deles dentro do presídio é dormir, usar droga e comer”
- Maioria dos Estados omite dados sobre presídios do País