“Minhas preocupações voltam-se sempre para o cerne que dá nó aos emaranhados fios desses impasses, a saber, de que é feito o humano? Quais são hoje suas condições de existência?”, antecipa a professora
A professora Lucia Santaella que já refletiu muito sobre a virada tecnológica e as transformações no tecido social, agora, diante de um novo momento da tecnologia e sua imbricação com o modo de vida humana, se vê diante de questões que envolvem dialéticas de um neo-humano. Esse foi o tema de conferência que proferiu no Instituto Humanitas Unisinos – IHU no final de julho e que reproduzimos agora na forma de texto.
Na primeira parte, trazemos o texto de autoria da própria pesquisadora, lido na abertura do debate. O material, segundo ela, comporá um de seus novos livros a serem publicados em breve. Na sequência, reproduzimos a conversa de Santaella com o público, na qual aprofunda muitos de seus insights contidos no texto inicial.

Professora Santaella
Foto: arquivo UFG
Lucia Santaella é pesquisadora 1A do CNPq, graduada em Letras Português e Inglês. Professora titular no programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica e no programa de Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, ambos da PUC-SP. Tem doutoramento em Teoria Literária na PUC-SP (1973) e Livre-Docência em Ciências da Comunicação na ECA/USP (1993). É coordenadora da Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, diretora do Centro de Investigação em Mídias Digitais - CIMID e coordenadora do Centro de Estudos Peirceanos, na PUC-SP.
Desde 1996, tem feito estágios de pós-doutorado em Kassel, Berlim e Dagstuhl, Alemanha, sob os auspícios do DAAD/Fapesp. 258 mestres, doutores e pós-doutores defenderam seus títulos sob sua orientação, de 1978 até o presente, e ela supervisionou 13 pós-doutorados.
O tema acima, que me foi proposto, está baseado em algumas declarações que fiz em palestras e debates sobre a minha “Hipótese do neo-humano. A sétima revolução cognitiva do Sapiens”. Trata-se de um livro que comecei antes e toquei durante a pandemia, resposta de profunda concentração que encontrei durante os duros tempos de isolamento. Isso foi me proporcionando força interior e inspiração para terminar um livro com esse título. Assim, o que vou apresentar a seguir é a hipótese da qual o livro parte e uma sinopse da tese que o livro desenvolve em defesa dessa hipótese.
Tomei como ponto de partida que as sociedades humanas estão envolvidas em profundos e cruciais impasses de todas as ordens, ecológicos, tecnocientíficos, macro/geo/micropolíticos e sociopsíquicos. Para diagnosticá-los, de modo a elucidar caminhos que se abram na busca de soluções, não cabem entendimentos simplistas. Dada a minha formação nas ciências e artes humanas, minhas preocupações voltam-se sempre para o cerne que dá nó aos emaranhados fios desses impasses, a saber, de que é feito o humano? Quais são hoje suas condições de existência? Sob influência de Nietzsche e Foucault – e, sob aspectos complementares, Benjamin – aprendi que o imediato engana.
É preciso praticar a genealogia das condições que levaram até o presente. Os impasses são cruciais demais, exigindo que o arco-íris de recuo ao passado seja tão vasto quanto os dilemas exigem. Para isso, elegi o Sapiens e sua longuíssima travessia como meio e método para o diagnóstico de suas atuais condições. Não foi uma opção súbita. Intuições, visitações interrompidas aqui e ali, mas obstinadamente fiéis às minhas preocupações, não foram abandonadas no meio do caminho. Meu trabalho se desenvolve na solidão concentrada que o amadurecimento das hipóteses reclama. Uma solidão paradoxal, pois autores de diversas áreas de conhecimento constituem-se em companheiros e protagonistas do meu parque de diversões mentais.
A hipótese central que orientou minha caminhada afirma que a inteligência do Sapiens segue um processo progressivo de crescimento de complexidade que se alimenta de dois fatores:
1) a inteligência tem sua fonte na linguagem falada, o humano é um animal que fala, e esta foi se desdobrando semioticamente em uma multiplicidade de alter linguagens cada vez mais heteróclitas e misturadas.
2) Não há linguagem que possa prescindir de meios sociotécnicos para a sua produção e transmissão. O desdobramento das linguagens foi sendo acompanhado pela multiplicação de tecnologias de linguagem, portanto, tecnologias inteligentes que tornaram os processos comunicativos cada vez mais complexamente interconectados.
Comunicação e cultura são inseparáveis. A literatura paleontológica já comprova isso. Aí se encontra a malha bem tecida que entremeia linguagem, tecnologia, comunicação e cultura como fruto das habilidades cognitivas do humano. Antes que a noção de inteligência seja fetichizada, é preciso anotar que a inteligência humana é paradoxal, agônica, não dá conta de seus próprios venenos. Amiga e inimiga no próprio coração da espécie.
Desde muito cedo, o Sapiens buscou superar tanto a fragilidade do seu cérebro mortal como depositário da memória quanto a contingência da fala evanescente e fugaz: começou a gravar imagens nas grutas para driblar a dissipação da memória no tempo. Do mesmo modo, inventou formas de escrita pictográficas, ideográficas, hieroglíficas como meios de preservação externa, socializada, dos seus modos de conhecimento do mundo. Esses fatos têm me levado a afirmar que, por meio das linguagens, aí se deu o início do crescimento do cérebro humano, de sua capacidade cognitiva e, consequentemente, de sua inteligência fora do corpo biológico, mas devidamente a ele integrado pelos próprios fios do pensamento e da inteligência mediados pelas linguagens.
A ênfase na linguagem coloca minha teoria longe daquela bastante aclamada, desenvolvida por Andy Clark (1997), sobre a mente estendida. Para esse autor, as extensões saltam da mente e do corpo para as tecnologias e seus ambientes sem que haja um elemento condutor para essa passagem. Esse fio condutor encontro nos signos ou linguagens, únicas entidades que se acomodam com igual desenvoltura em nossas mentes e nos equipamentos e dispositivos externos de linguagem, ambos em interconexão.

Andy Clark é filósofo britânico, professor de filosofia cognitiva na Universidade de Sussex | Foto: Un. Sussex
Na continuidade de minha narrativa, para ficarmos no Ocidente – pois, para o Oriente, como já afirmou Octávio Paz, só podemos olhar pelo enquadramento de uma janela –, grandes saltos na direção do crescimento da inteligência deram-se a partir da implantação, no mundo grego, da escrita alfabética e seus suportes de inscrição que vieram se exponenciar com a invenção de Gutenberg. Embora a propagação dos livros tenha impulsionado consideravelmente a exossomatização da inteligência, seu ponto de expansão e aceleração viria com as tecnologias de linguagem trazidas pela revolução industrial: máquina fotográfica, fonógrafo, cinematógrafo, seguida pela revolução eletroeletrônica da qual resultaram o rádio e a TV.
Devemos notar que, nessas máquinas, que chamo de sensórias (amplificadoras dos sentidos da visão e audição), transitam linguagens e nestas constituem-se novas formas de cognição que diversificam e ampliam as formas externalizadas da inteligência humana. Entretanto, essa ampliação só viria a alcançar seu cume evolutivo com as máquinas cerebrais, a saber, os computadores.
Se, por limitações físico-biológicas, o crescimento do cérebro não podia se dar dentro da caixa craniana, a inteligência humana tratou de se desenvolver fora do corpo humano, extrassomatizada sub specie de linguagens que foram se sofisticando cada vez mais nas máquinas replicadoras das funções sensório-motoras próprias da revolução eletromecânica, passando pela eletroeletrônica até atingir as tecnologias da inteligência da revolução teleinformática.
Enquanto as linguagens geradas em suportes eletromecânicos, especialmente a foto e o cinema, e as linguagens geradas em suportes eletroeletrônicos, especialmente as radiofônicas e televisivas, são voltadas prioritariamente para a ampliação de um tipo específico de inteligência, aquela do infotenimento comunicacional, enquanto a própria Internet e suas redes sociais estão ainda direcionadas para o infotenimento agora incrementado pela interatividade e compartilhamento, a partir da inteligência artificial (IA), as máquinas cerebrais estão atingindo um ponto de magnitude de tal ordem que são simulados e emulados os próprios atributos que são constitutivos da inteligência em si. No estado da arte em que hoje estamos, seria difícil encontrar prova maior do que aquela que nos é dada pela IA, do vetor para o crescimento da inteligência humana.
É diante disso que podemos afirmar, sem muitos titubeios, que a IA veio para ficar, crescer e se multiplicar, o que, por outro caminho, acaba por coincidir com os prognósticos dos especialistas de laboratórios, ou seja, aqueles que estão com a mão na massa, que estão construindo a IA e que conhecem por dentro os benefícios e riscos, os efeitos colaterais, as externalidades positivas e negativas que apresentam, felizmente longe do sensacionalismo de filmes distópicos e de temores mal-informados.
Qual foi a gênese da minha hipótese? Desde muito tempo, cuja localização exata perdeu-se nas brumas da minha memória, provavelmente na época juvenil em que li O Acaso e a necessidade, de Jacques Monod (1976), e, então, depois de assistir repetidamente ao filme Blade Runner (Ridley Scott, 1982), começou a brotar em meu pensamento, como já mencionei, a hipótese de que a inteligência humana está crescendo para fora do corpo biológico, processo que já teve início nas imagens das cavernas.
O livro de Monod obteve uma grande repercussão na época, não apenas pelo fato de o autor ter recebido o prêmio Nobel. O livro colocava por terra qualquer hipótese determinística sobre a vida no planeta com suas consequências na vida humana. Conforme está expresso no título, Acaso e necessidade, existe um balanço indissociável entre o determinado e o indeterminado, o possível e o atual, a previsibilidade e a incerteza. De fato, o destino se inscreve na medida em que se cumpre, e não antes.
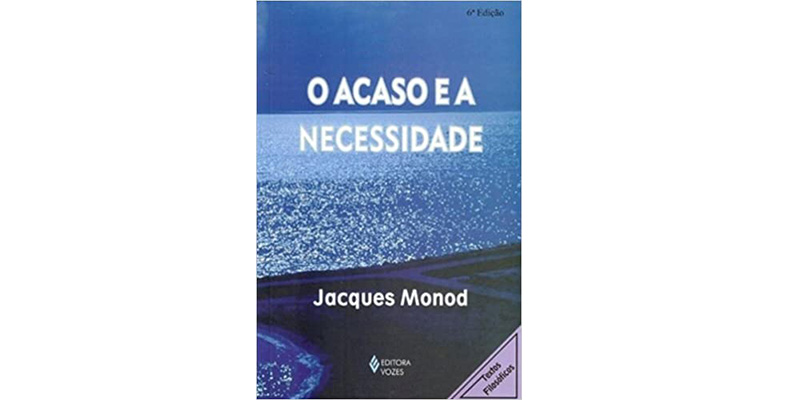
O Acaso e a necessidade, de Jacques Monod, em edição de 2006, pela editora Vozes | Foto: divulgação
Além disso, a obra já colocava em questão dicotomias que tenderiam a se dissipar daí para frente, especialmente entre natureza e artifício. Afinal, desde meados do século 20, a biologia já havia se dado conta da natureza química do código genético: a vida é informação.
De fato, de meados dos anos 1950 a 1980, a biologia entrou em alvoroço com a grande pergunta: o que é a vida? Aquilo que se conhecia de sua fisicalidade foi questionado. A descoberta do código genético evidenciou que vida é código, informação, portanto, algo que pode ser decifrado, destituído de quaisquer suposições de sacralidade. Aquilo que é decifrado pode ser manipulado. Não deu outra. A primeira intervenção no código genético se deu em 1969. Os problemas éticos que decorrem disso são imensuráveis. A primeira sequencialização do genoma deu-se em 1999. Qualquer cientista pode hoje ter acesso a bancos de genes.
Não foi por acaso que o livro de Monod me fascinou. Suas ideias encontraram, poucos anos mais tarde, uma versão imaginativa impactante no filme Blade Runner. Alguns consideram o filme - inclusive aquele que lhe deu prosseguimento, em 2017 - como uma expressão ficcional da metafísica. Penso que eles tratam especificamente de questões ontológicas situadas nos impasses biotecnológicos que estamos vivendo.
Antes que a ontologia seja também fetichizada (uma tendência que os conceitos intelectuais parecem seguir), pois afinal é a ontologia do humano que persigo, devo esclarecer que tomo como ponto de partida a pergunta “o que é?”, mas não transformo o “é” na sua nominalização abstrata do “ser”. Se perguntar “o que é o humano?” já é complicado, substituir a pergunta por “qual é o ser do humano?” é viajar por uma abstração essencialista que só pode dar em nada ou em crenças imutáveis.
Por isso, sigo nesse ponto as observações ironicamente saborosas de Latour (2009), ao mencionar que Sloterdijk apresenta ao seu mestre Heidegger maliciosas questões do tipo: “quando você diz que o Dasein é jogado no mundo, onde ele é jogado? Qual é a temperatura do lugar, a cor das paredes, o material que foi escolhido para a deposição do lixo, o custo do ar-condicionado, e assim por diante”. Com isso, a profunda ontologia filosófica do Ser qua Ser toma um direção bem distinta, a qual nos prova que a questão “pro-funda” do Ser foi considerada superficialmente. “O Dasein não tem roupas, nem habitat, não tem biologia, nem hormônios, nenhuma atmosfera em torno dele, nenhuma medicação, nenhum sistema de transporte viável, nem mesmo para chegar à sua cabana na Floresta Negra. Dasein é jogado no mundo, mas em tal condição de nudez que não tem muita chance de sobrevivência” (ibid.).
Para evitar essa nudez, meu segredo foi penetrar na capilaridade infraestrutural que dá sustento a eras culturais: 1. Oralidade; 2. Escrita; 3. cultura do livro; 4. de massas; 5. das mídias; 6. cultura digital e a sétima que estamos atravessando, cultura da dataficação. Essas eras funcionam como picos de crescimento da inteligência humana externalizada nas tecnologias de linguagem. Estas foram se expandindo através dos séculos até chegar ao momento presente em que aquilo que costumávamos pensar sobre o que é o humano é colocado em desconcertante questionamento. Em que se transforma a mente humana, quando ela se estende em aparelhos e dispositivos? O que é o corpo, quando sua clonagem se torna possível.
Mais ainda, o que é hoje o corpo, quando as tecnologias começam a penetrar em seu âmago mais profundo e se alargar por meio de chips, sensores, GPSs, hiperconexões que captam nossas localizações onde quer que estejamos? Assim, os Blade Runners não são filmes futuristas. Eles têm os olhos postos nas condições presentes. Parecem futuristas porque levaram os avanços da engenharia genética às últimas consequências, o que, de resto, já se anunciava desde os anos 1970. Parecem futuristas porque as pessoas tendem a olhar o presente com os olhos postos no retrovisor, conforme foi diagnosticado por M. McLuhan.
Repito: não são futuristas, mas anteciparam as incertezas cruciais que o contemporâneo está colocando na face de nosso ser: em que o Sapiens se converteu? Afinal, o que somos nós humanos, ou o que sobrou de nós; melhor, o que sobrou do que pensávamos que éramos, agora que nos tornamos literalmente híbridos entre o carbono e o silício?
Creio que esse emaranhado de questões se constituiu em um fio subterrâneo que vem, explícita ou implicitamente, acompanhando muitos dos meus trabalhos há algum tempo, alimentados também por uma curiosidade intelectual difícil de dar conta. Para tornar essa longa história mais curta, no final dos anos 1990, impulsionada pelas novas tendências da arte, estava imersa na pesquisa sobre o corpo, que passei a chamar de biotecnológico, e o seu conceito irmão, o pós-humano. Os temas eram praticamente obrigatórios na época.
Imersa em uma rosácea de ideias e atenta às exposições internacionais de arte sobre o pós-humano, decidi dar ao livro, em que, naquela época, 2003, expunha as pesquisas recentes, o título de Culturas e artes do pós-humano. Da cultura de massas à cibercultura. A penetração desse livro no Brasil deu-se de maneira lenta, mas gradativamente foi ganhando várias reimpressões até ser homenageado em 17 de agosto-2019, na Bienal Nacional do Livro em Fortaleza, justo no momento em que estava passando meu pensamento do pós-humano para o neo-humano.
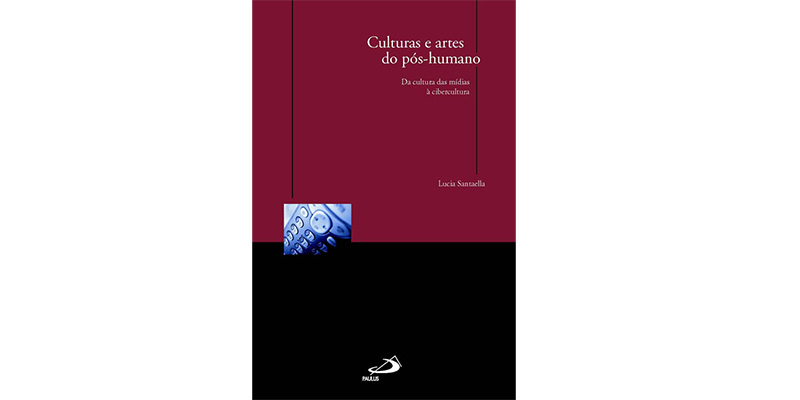
Culturas e artes do pós-humano. Da cultura de massas à cibercultura, de Santaella (Paulus, 2003)
De fato, muitas águas rolaram desde 2003. Minha pesquisa, levada a cabo a partir de 2015, que já foi finalizada e que envolveu a Ontologia Orientada aos Objetos, proposta pelos realistas especulativos, conduziu-me para a passagem do pós-humano ao não-humano, tema discutido com veemência pelos realistas, conforme apresentei em mais de uma publicação. A virada do não-humano (nonhuman turn) engloba estudos interdisciplinares das mais diversas ordens, todos eles endereçados para o descentramento do humano no seio da biosfera. A rigor, as teorias do não-humano representam um prolongamento crítico dos movimentos teóricos e artísticos que, durante algum tempo, ocuparam o cenário das ideias com o nome de pós-humano.
Neste ponto, é preciso esclarecer o que estou aqui entendendo por inteligência. Não existe um consenso quanto à definição de inteligência. Aquela que está mais próxima do sentido que aprecio foi formulada por Nilsson (2010). Para ele, a inteligência é uma qualidade ou atributo que habilita uma entidade a funcionar apropriadamente e com alguma previsão no seu ambiente. A partir disso, são muitas as entidades que podem possuir a qualidade da inteligência: humanos, animais e algumas máquinas. Não é por acaso, portanto, que nossos celulares são chamados de telefones inteligentes, o que, de fato, são. Seria difícil dizer que não.
É fundamental esclarecer que pensar o crescimento da inteligência da espécie humana e com ela o neo-humano não implica, de modo algum, a consideração acrítica e apologética desse crescimento. Ao contrário, a inteligência cresce e com ela crescem suas ambivalências, suas contradições e seus paradoxos. Afinal, conforme Edgar Morin (1975) já nos alertou há muitos anos, somos homo faber, loquens, ludicus, sapiens, digitalis e, sobretudo, não há como negar, somos também demens. Trata-se de uma espécie efetivamente paradoxal que ganha, ao nascer, a consciência da morte, um ser para a morte, como afirmou Heidegger. O que se tem aí é um descarnamento radical, irrevogável, irremediável, uma promessa de dor pela efemeridade, pelas perdas dos seres amados e pelo desaparecimento inexorável, em contradição cabal com o sonho de eternidade que ronda a fragilidade da vida fadada à morte.
Trazendo a questão para mais perto da realidade atual, Bostrom (2016, p. 67) esclarece que somos levados a constatar que as sociedades modernas não parecem inteligentes. Condições bastante negativas hoje presentes no recrudescimento geopolítico de animosidades destrutivas e cruéis, aliadas, em alguns países, àquilo que vem se evidenciando como a ascensão de uma direita radical comparecem como sinais evidentes de falta de sabedoria e incapacidade mental na era moderna. Além disso, são também evidentes a idolatria do consumo, a poluição e destruição do meio ambiente e dizimação de muitas espécies, as falhas em se remediar injustiças globais e a negligência em relação a valores humanos e espiritualidade. Tais condições apenas comprovam que o crescimento da inteligência coletiva não implica maior sabedoria. Que sistemas inteligentes não são inerentemente bons e confiavelmente mais sábios, funcionam como índice inegável dos paradoxos e contradições de uma espécie que, por ser Sapiens, carrega a demência também dentro de si.

Nick Bostrom é filósofo sueco da Universidade de Oxford que trabalha sobre risco existencial, o princípio antrópico, ética de aprimoramento humano, riscos de superinteligência e o teste de reversão | Foto: Wikimedia Commons
Tais condições, entretanto, não devem impedir a constatação crítica de que somos uma espécie em processo ininterrupto de evolução, um tipo de evolução que é hoje bastante precipitada pelo crescimento desmesurado das linguagens e, com elas, da cognição humana, o que de modo algum pode ser tomado como sinônimo de progresso; esta palavra, de resto, uma invenção alimentadora dos ideais capitalistas. Vem daí a importância de se levantar os perigos que nos rondam e de se engajar no pensamento de estratégias. Esse é o novo limiar em que nossa humanidade está penetrando, um limiar cuja extrema complexidade e desafios ontológicos – e, especialmente, éticos - deveriam nos instigar para uma conversação em que todos, de uma forma ou de outra, poderiam se engajar.
É nesse diálogo que meu livro se engajou, com a modéstia que me cabe, mas com o rigor necessário e na continuidade de ideias que foram brotando e amadurecendo ao longo do tempo e que me fizeram chegar às condições atuais do meu pensamento com a constatação de que estamos no limiar do neo-humano. O que posso dizer é que o livro buscou deslindar as determinações passadas que poderão endereçar o leitor paciente rumo ao encontro com essa neopersonagem cujas consequências, do presente para o futuro, inserem nossos pensamentos e afetos no vórtice de cruéis incertezas.
CLARK, Andy. Being there. Putting brain, body, and world together again. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.
LATOUR, Bruno. Spheres and networks. Two ways to reinterpret globalization, 2009. Disponível aqui. Acesso: 20/02/2010.
MONOD, Jacques. O acaso e a necessidade. Bruno Palma e Pedro Paulo de Sena Madureira (trads.). Petrópolis: Vozes, 1971.
MORIN, Edgar. O enigma do homem. Para uma nova antropologia. Fernando de Castro Ferro (trad.). Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
NISSON, Nuks J. The quest for artificial intelligence. A history of ideas and achievements. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 2010.
"É preciso ser muito ingênuo para não querer ver que hoje nós estamos vivendo em uma hibridização completa com os equipamentos tecnológicos que estão ficando cada vez mais similares ao humano." Entretanto, adverte a pesquisadora Lucia Santaella ao fazer esta constatação, "nós não estamos virando máquina; são elas que estão se aproximando do nosso corpo. Hoje há tecnologias vestíveis e já se fala em internet dos corpos. Isso vai transformando o ser humano".
Segundo ela, o "neo-humano", status atual do ser humano hibridizado, tem lançado à espécie humana "a necessidade de pensarmos esta nova ontologia: o que somos nós hoje?" A colocação desta questão, assegura, "não significa que o humano vai desaparecer. Aqui estamos. A consciência é a nossa interioridade, é a nossa vida inteira que está aqui em cada um de nós e é intransferível. Isso as máquinas não vão ter, porque é impossível; é uma história de vida. (...) Então, não podemos imaginar que deixamos de ser humanos só porque agora estamos misturados e hibridizados com uma inteligência que expande a nossa. Continuamos humanos, com todas as nossas fragilidades. Só que somos humanos diferentes. Temos que redefinir essa humanidade. É isso".
IHU – Qual a diferença de neo-humano para o transumano e o pós-humano? Como, nessas transformações, preservar o humano? Qual é o papel da tecnologia neste debate?
Lucia Santaella – A pergunta é muito boa porque há uma grande diferença entre esses termos – aliás, em um livro que escrevi com Erick Felinto, sobre [Vilém] Flusser e o pós-humanismo, diferenciamos o transumanismo do pós-humano.
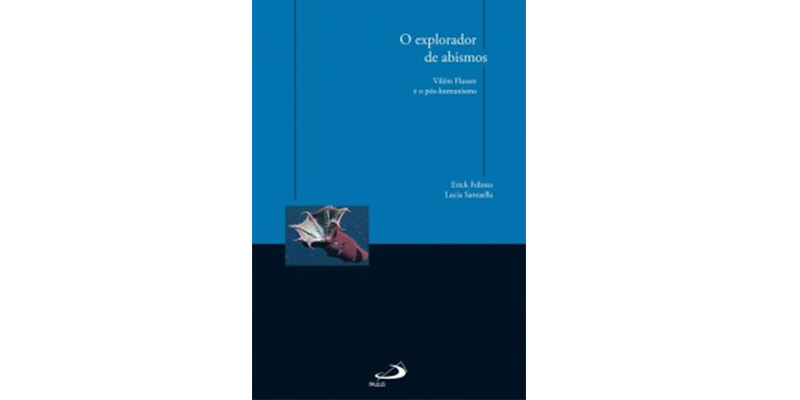
O explorador de abismos – Vilém Flusser e o pós-humanismo, de Erick Felinto e Lucia Santaella (Paulus, 2012)
Infelizmente, o transumanismo, que está ligado àquela singularidade – uma ideia que está no filme Matrix - que vai dar download do cérebro para um corpo que não seja tão frágil quanto o nosso, garantindo a nossa imortalidade, é algo que não podemos dizer que é impossível, mas o ser humano, todo o ser orgânico, carrega a mortalidade. Então, considero o transumanismo uma ficção, embora existam institutos da singularidade na Califórnia que garantem que tudo isso vai acontecer. Isto é, que a nossa inteligência vai se livrar desse corpo biológico e imortal.
A ideia de pós-humanismo começou a se desenvolver na cibernética porque esta não foi outra coisa senão a consciência de que há uma similaridade no funcionamento das máquinas e no funcionamento do corpo humano. Por isso que naquela época usávamos o termo pós-humano – e eu o batizei de o corpo biotecnológico, ou seja, uma hibridização que começou a se desenvolver e foi crescendo entre o biológico com o tecnológico.
É preciso ser muito ingênuo para não querer ver que hoje nós estamos vivendo em uma hibridização completa com os equipamentos tecnológicos que estão ficando cada vez mais similares ao humano. Nós não estamos virando máquina; são elas que estão se aproximando do nosso corpo. Hoje há tecnologias vestíveis e já se fala em internet dos corpos. Isso vai transformando o ser humano. Então, para falar hoje de neo-humano, recorro a duas décadas quando a consciência do pós-humano foi acordada para o fato de que o ser humano está se transformando em função de tecnologias inteligentes. Mas essas transformações já começaram na Revolução Industrial. A câmera fotográfica é resultado da inteligência humana e da criação humana mediada por equipamentos e máquinas, os quais Flusser chama de aparelhos.
O neo-humano é o estágio que temos hoje e não há uma grande diferença com o pós-humano. Só que em termos de debate internacional, o pós-humano migrou para o não-humano, que é o descentramento do humano na biosfera. Hoje, eu chamo de neo-humano a necessidade de pensarmos esta nova ontologia: o que somos nós hoje? Isso não significa que o humano vai desaparecer. Aqui estamos. Aliás, para este meu novo livro, escrevi um capítulo sobre consciência. A consciência é a nossa interioridade, é a nossa vida inteira que está aqui em cada um de nós e é intransferível. Isso as máquinas não vão ter, porque é impossível; é uma história de vida. Diz-se na psicanálise que o paciente conta a história da sua vida porque ela é aquilo que o constitui. Então, não podemos imaginar que deixamos de ser humanos só porque agora estamos misturados e hibridizados com uma inteligência que expande a nossa. Continuamos humanos, com todas as nossas fragilidades. Só que somos humanos diferentes. Temos que redefinir essa humanidade. É isso.
IHU – Parece que esquecemos a noção de tecnologia como acessório que está a serviço do ser humano e passamos a querer operar como as máquinas.
Lucia Santaella – No livro “Humanos Hiper-Híbridos: Linguagens e cultura na segunda era da internet”, trato de “gênios digitais”. Nós estamos proliferando gênios digitais no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Um pesquisador da Hungria fala em “ausência presente e presença ausente”. Olha a contradição.
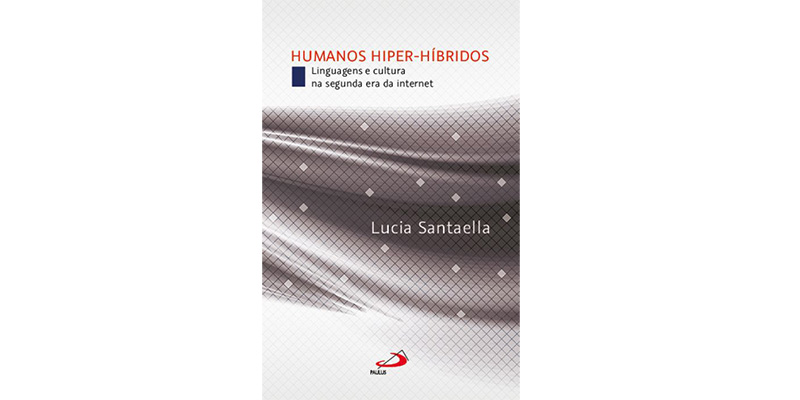
Humanos Hiper-Híbridos - Linguagens e cultura na segunda era da internet (Paulus, 2000) | Imagem: divulgação
IHU – Podemos dizer que os aparelhos tecnológicos e a rapidez do 5G vão influenciar as tomadas de decisão dos ser humano, tornando-as mais instintivas e menos reflexivas, mais individualistas e menos altruístas? O Brasil vive uma excitação com o 5G, mas ainda há regiões do país que são analógicas. Como tratar do tema das desigualdades sociais e suas múltiplas facetas a partir dessa temática?
Lucia Santaella – A condição, no Brasil, do que costumamos chamar de “dependência da tecnologia”, é muito típica deste país. Nós temos de lembrar de uma coisa: a cultura brasileira saltou do século passado para este século, da oralidade para a cultura de massas. Nós não tivemos os séculos que a Europa teve de cultura letrada. Quando falo de cultura letrada, me refiro às letras, aos livros, à leitura continuada que nos dá a possibilidade da reflexão. Então, isso está ligado ao problema da educação.
Nós não temos que nos entregar, na educação, a esse festival tecnológico porque isso uma criança e um bebê de um ano e meio ou dois anos já domina; eles usam o celular e fazem operações semióticas e cognitivas. Na escola, neste país, a cultura letrada é importantíssima. Não é importante na Alemanha porque eles têm uma cultura letrada muito forte, mas, aqui no Brasil, nós temos que levar a formação educacional das crianças e dos adultos para essa experiência e atividade da leitura demorada, concentrada, de entrega. Sem isso, não há reflexão.
Escrevi um texto sobre isso, que está publicado na revista Matriz. O livro é uma prótese reflexiva; o celular, não é. O celular é intempestivo. Veja o absurdo que está acontecendo nos dias de hoje: entramos na internet, vemos um texto, e dizemos que é possível fazer uma leitura de cinco minutos. O que você grava na sua cabeça em cinco minutos?
Então, vamos ser um pouco mais críticos com a condição brasileira, onde a formação educacional que a cultura do livro nos traz – não importa se o livro está em papel; ele pode estar no computador ou num aparelho para leitura de livro – ainda é deficitária. O que importa é a capacidade cognitiva que se desenvolve quando eu me sento, me entrego, me concentro, e vou guardando na memória aquilo que estou lendo. Portanto, a condição brasileira é diferente da de alguns países que passaram pela cultura letrada.
Não se pode saltar dessas culturas que mencionei, oralidade, escrita, Revolução Industrial, fotografia, porque elas são eras do desenvolvimento do sapiens. Claro que existem culturas ainda puramente orais e elas sobrevivem e criam suas formas de sobrevivência, mas, se observarmos o desenvolvimento que o sapiens está tomando, o desenvolvimento tecnológico é necessário. Vamos dizer que não? Daqui a pouco vamos ser oito bilhões de habitantes no planeta que precisam sobreviver. Então, as tecnologias e mesmo a inteligência artificial vieram para dar uma ajudada. Ocorre que o ser humano não é bonzinho e, no caso das condições brasileiras, há abismos. Há essa festa do 5G enquanto 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Aí não se trata de uma contradição; a contradição vira abismo. Nós reclamamos, mas temos que falar sobre isso. É aquele velho tema: a verdade tem que ser dita.
Escrevi sobre o problema da educação na pandemia porque as diferenças são abissais. Claro que pessoas que passam fome chegam no limite último, mas a educação, quando não é dada, também é uma fome. Uma fome de desenvolvimento que a pessoa pode ter para compreender a realidade e a si mesma. Só para vocês terem uma ideia, no Estado de São Paulo, um milhão de crianças ficaram sem acesso à educação durante a pandemia por quase 200 dias. Quase o ano inteiro. Imagine o que isso significa. Infelizmente, é muito triste termos que constatar que não faltam problemas, mas problemas cruciais para nós; mas, ao mesmo tempo, não podemos nos sentir como se fosse uma heresia trabalharmos pela educação, pelo conhecimento, pela ciência, porque sem isso uma sociedade não pode avançar. Meu lema agora é: “bem compreender para melhor agir”. Não temos que ficar nos escondendo atrás do medo da inteligência artificial; temos que compreender o que está acontecendo porque aí estamos mais equipados para agir na realidade com a modéstia de cada um. É preciso compreender. Quanto mais estudamos, mais percebemos que sabemos pouco e aprendemos com o outro. É uma maravilha!
IHU – Nesta nova era, estamos inseridos no limiar de um novo “holocausto”, um genocídio coletivo cientificamente projetado por meio de um novo regime climático?
Lucia Santaella – Você está dando o nome de “holocausto” – sabemos que governos não só autoritários, mas destrutivos, continuam existindo. Aliás, agora, resolveram criticar o [Yuval Noah] Harari. As pessoas se aproveitam da fama dele e pegam a rabeira. Ele é um brilho, mas não é um cientista e nunca se apresentou como cientista, mas o que ele diz é o seguinte: o grande perigo do desenvolvimento tecnológico é quando ele cai na mão de governos que o usam contra a humanidade.
Esse perigo existe e é isso que você está chamando de “holocausto”. Mas aí você foi para o regime climático. Não se trata de um genocídio. O ser humano está se matando a si próprio. Se nós frequentarmos os grandes especialistas em antropoceno e crise climática, a conclusão a que chegaremos é a seguinte: a Terra vai continuar; ela continua seu ciclo até o momento em que o sol não mais aquecer o sistema solar, mas quem pode desaparecer do planeta é a espécie humana.
Tomo a sua ideia de genocídio como uma espécie de metáfora porque o problema na verdade é que as condições de existência da vida estão sendo destruídas. Várias espécies estão desaparecendo e o que está em risco é a própria espécie humana desparecer. Por quê? Porque os ideais que cultivamos como humanos desde o século XIX se transformaram em ideais que têm como alvo o lucro capitalista. Então, o demônio é mesmo o sistema capitalista. Até agora os grandes especialistas não conseguiram encontrar um rumo que nos desloque desse caminho de destruição. É sério o problema da crise climática. O ser humano já ultrapassou os limites que foram estipulados para 2025, 2030.
O festival do metaverso vai acontecer se as coisas continuarem como estão, mas ele não visa outra coisa senão um desenvolvimento mais acelerado da sociedade capitalista. Outro dia perguntei para o diretor de um banco se o banco já estava entrando no metaverso e ele responde que sim, que já vai ter uma agência no metaverso para vender mais e ter mais lucro, óbvio. As pessoas criticam o Google, mas ao menos o Google me dá alguma coisa; o banco só me tira. Esse sistema é o mais vergonhoso porque nem é produtivo.
IHU - A senhora vive parte do ano na Alemanha. Como a questão ambiental brasileira é vista desde lá?
Lucia Santaella – Quando se sai do Brasil, a primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre a Amazônia. É um suicídio. É triste a visão que o exterior está tendo do Brasil. O alemão é um povo que tem levado essa questão muito a sério. Eles ficam horrorizados. Qualquer ser pensante fica horrorizado com o que está acontecendo. Uma vez, analisei 32 vídeos para uma ONG ambiental. Não há nada mais triste do que ver as cicatrizes da terra devastada – e não adianta esconder porque hoje os satélites estão lá, com sensoriamento remoto, mostrando para o mundo o que está acontecendo; não há como esconder.
Veja que as tecnologias são ambivalentes porque, sem elas, não saberíamos a dimensão da destruição da superfície deste território brasileiro que é premiado pela natureza. Uma árvore aqui cresce em dois anos; na Dinamarca, leva 20 anos. Como maltratar um território que a natureza premiou? Eu só acredito em uma coisa: educação; educação como formação para a vida e como compreensão da insistência do real. O real insiste; é por isso que podemos lutar hoje contra as mentiras, porque a realidade insiste.
Ao mesmo tempo em que, para alguns, a internet funciona como um aprisionamento, para outros funciona como uma emancipação, porque ela também traz possibilidades de uma otimização de processos educacionais. Temos que examinar as ambivalências. Isto que é a reconsideração do humano: nas ambivalências, como podemos retroalimentar aquilo que traz de benefício e, por outro lado, pôr o dedo na ferida dos riscos. Mas, habitar o paraíso, nós não vamos nunca. Só se acreditarmos na outra vida.
IHU – Por que a necessidade de um novo termo, o “neo-humano”? Ser ciborgue e pós-humano já não é ser um “neo-humano”?
Lucia Santaella – Claro que esses nomes estão perfeitamente integrados, mas com eles pretendo marcar a evolução do debate em termos internacionais. Eu sigo muito o debate internacional porque evidentemente é no confronto com a alteridade que podemos desenvolver a capacidade crítica a respeito da nossa condição. Então, o pós-humano é um debate que aflorou e se desenvolveu até mais ou menos os anos 2000 e nem chegou até 2010 porque ele já foi acompanhado, internacionalmente – e existe uma vasta bibliografia sobre isso –, pelo não-humano.
Quando uso “neo-humano”, me refiro ao debate em que ele se encontra hoje a partir do advento da inteligência artificial. A inteligência artificial está pondo, para nós, o dedo na questão de que essa inteligência fora do nosso corpo biológico está aí expandindo a nossa própria. Então, é uma questão mais para marcar momentos de debates sobre o humano. Quando chamo de neo-humano, falo da sétima revolução cognitiva. Nós atingimos um outro pico agora, mas claro que começou com o pós-humano. No capítulo do meu livro, eu desenvolvo a noção de neo-humano, começo tratando do pós-humano, que é quando se deu a constatação – que já veio desde a cibernética – de que o humano é um ser que vai se transformando pela hibridização com a tecnologia. Só que a tecnologia não começou com o computador. Sabe onde ela começou? O ser humano é tecnológico de saída porque temos um aparelho fonador. É um aparelho instalado no nosso próprio corpo e é graças a ele que temos a fala articulada, que desenvolve o que chamamos de cognição humana, que é diferente da cognição de um cachorrinho. O cachorro também tem cognição. Já viu ele balançando o rabinho quando fica contente? Tem cognição e tem emoção.
Donna Haraway, em seus últimos livros, tem mostrado que o animal tem emoção. Não posso dizer que ele tem consciência porque imagino que se outro ser humano me ouve e tem consciência é porque ele pertence à minha espécie e, portanto, ele tem as mesmas habilidades que tenho. Então, consciência é uma coisa mais complicada, mas emoção, evidentemente, os animais têm. Uma planta tem emoção. Ela se protege, vai na direção do sol porque o instinto biológico não é outro senão o da sobrevivência. Então, às vezes precisamos de novos nomes para compreender novas condições.
IHU – A senhora fala em singularidade. Acredita que ela será alcançada?
Lucia Santaella – Não acredito porque [o humano] deixaria de ser humano. O que caracteriza o humano está em Heidegger: um ser para a morte. A consciência não é outra coisa senão consciência da morte.
A nossa subjetividade, a constituição da nossa identidade psíquica, é inseparável da imagem corporal. Por isso sou muito crítica ao filme Matrix, porque é um neocartesianismo: separa o corpo da mente. Nossa consciência, nossa subjetividade, nosso mundo exterior e interior é inseparável da nossa corporeidade. Estava lendo nesta semana alguns textos de Margaret Boden sobre o debate se a máquina tem emoção.

Margaret Ann Boden é professora de ciências cognitivas na Universidade de Sussex, onde Pesquisa inteligência artificial, psicologia, filosofia, e ciência cognitiva e da computação | Foto: Wikipédia
A máquina simula a emoção porque esta depende de hormônios e neurotransmissores químicos. Se você conseguir pôr na máquina tudo isso, aí, sim, ela vai ter emoção. Ela reconhece emoção no humano e simula ter porque teve acesso a milhares de exemplos de situações em que o ser humano tem emoção, mas sentir é uma questão corporal e, então, por enquanto, a história da singularidade não me convence. Apesar de que muitas coisas que eles prognosticaram estão acontecendo.
IHU – Gostaria de fazer um fechamento?
Lucia Santaella – Muitas vezes o pessimismo é necessário como um sinal da inteligência. Mas eu deixo sempre um recado: só há uma forma de libertação, que é estudar, conhecer, porque é isso que nos emancipa. Provavelmente estou aqui diante de muitos jovens. Estudar é o que vale a pena na vida, é o que fica para nós. Vamos estudar, vamos ler. Não que não haja cognição, como, por exemplo, quando eu leio um texto de três minutos. Há cognição, mas a que fica guardada na memória é aquela da entrega, da compreensão, do pensamento do outro e da transformação deste em pensamento próprio. Esse é o caminho.
Assista à íntegra da conferência em vídeo