Pesquisador aponta que a exclusão se perpetua quando não se leva em conta o contexto e os usos dos dispositivos
Ninguém duvida que todos devem ter acesso à tecnologia. Mas basta uma rápida passada em escolas e centros comunitários de periferias para vermos computadores velhos e desatualizados ou até máquinas e outros dispositivos melhores, mas com uma internet no modo “devagar e quase parando”. Essa realidade concreta revela que inclusão digital tem que ser muito mais do que isso. “Inclusão digital precisa do entendimento do contexto, precisa de ensino e de uma educação específica para a tecnologia, precisa da adaptação da tecnologia para aquele contexto”’, aponta o antropólogo David Nemer, em entrevista concedida via áudios enviados pelo WhatsApp ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
Em suas pesquisas, que deram origem a dois livros, Tecnologia do Oprimido: desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil (Mil Fontes, 2021) e Favela Digital (Vitória, Espírito Santo: Gsa Editora E Gráfica, 2013), Nemer observa que quando uma tecnologia é ofertada “de cima para baixo”, as pessoas são capazes de ressignificar seus usos. “O telecentro, por exemplo, e até mesmo a lan house, proporcionam essa inclusão digital porque, como espaço, também eram tecnologias mundanas dos moradores da favela. Afinal, eles conseguiam usar esse recurso da melhor forma, de maneira que os empoderavam”, diz.
Por isso, considera que a tecnologia pode seguir sendo um caminho para opressão se, mais do que tudo, não tiver significação para a vida as pessoas, como os moradores das favelas que conheceu. “Por mais que uma tecnologia seja desenvolvida com a premissa de que vai servir a todos, isso não se revela como verdade. Tanto é que, em meu livro, trago diversas formas de como as pessoas resistem a isso e adaptam tecnologias elas mesmas. Inclusão digital verdadeira é aquela que vai respeitando o contexto, trazendo dados de apropriações diferentes, promovendo ações educacionais, ajudas etc.”, completa.
Na entrevista, ainda fala de sua inspiração a partir da obra de Paulo Freire e de como ela serve ainda para pensar o mundo da chamada revolução 4.0. “Segundo ele [Freire], a opressão nada mais é do que quando o opressor prescreve o comportamento do oprimido, coloca na cabeça do oprimido como ele deve se comportar. Um algoritmo nada mais é do que uma série de prescrições de como lidamos com a tecnologia. Ou seja, ela dita como a utilizamos. Nada mais é do que opressão embutida em código”, conclui.

David Nemer (Foto: Divulgação/Facebook)
David Nemer é graduado em Ciência da Computação pela FAESA, em Vitória - ES, mestre em Antropologia pela Universidade da Virgínia e PhD em Computação, Cultura e Sociedade da Universidade de Indiana. Atua como professor assistente no Departamento de Estudos de Mídia e no programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Também é professor associado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard e do Brazil Lab da Princeton University. Etnógrafo, desenvolveu trabalhos de campo nas favelas de Vitória, Brasil; Havana, Cuba; Guadalajara, México e Eastern Kentucky, Appalachia, EUA.
IHU – Do que se trata e de onde veio o insight de escrever Tecnologia do Oprimido: desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil (Mil Fontes, 2022)?
David Nemer – Esta pesquisa começou em 2012, durante meu doutorado, ou seja, minha tese de doutorado foi uma etnografia nas favelas de Vitória, no Espírito Santo, em 2012 e 2013, ao longo de dez meses. No doutorado, eu ainda não conhecia bem a obra do teórico e pedagogo Paulo Freire. Cursei graduação em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Ciências da Comunicação na FAESA – Centro Universitário. Em nenhuma das duas cheguei a ler Paulo Freire.
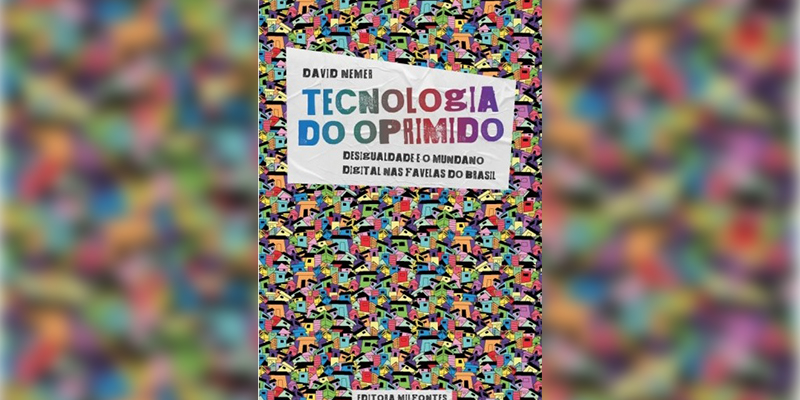
Imagem: Divulgação Editora Milfontes
No doutorado, como a pesquisa tinha uma abordagem de ciências sociais, com uma espécie de antropologia da tecnologia, as pessoas me perguntavam se eu conhecia Paulo Freire. Ele era constantemente citado nas conversas entre os acadêmicos. Foi aí que despertou meu interesse por sua obra. Entretanto, na minha tese de doutorado, não usei muito a obra de Paulo Freire, ou seja, a ideia da pedagogia do oprimido não era central na minha pesquisa porque não me sentia preparado. Usei outro teórico pós-colonial, Amartya Sen, que trata do desenvolvimento como liberdade.
Ao longo do tempo, fui lendo a obra de Paulo Freire e suas entrevistas, que são tão ricas quanto os livros. Fui observando como as noções de “opressão”, “oprimido” e “opressor”, da forma como Paulo Freire escreveu, eram atemporais e sem uma geografia permanente. Era possível aplicar as ideias de Paulo Freire praticamente em qualquer situação. Como eu estava focado na questão da tecnologia, percebi como a questão da opressão poderia ser mais bem compreendida a partir da lente do autor.
Segundo ele, a opressão nada mais é do que quando o opressor prescreve o comportamento do oprimido, coloca na cabeça do oprimido como ele deve se comportar. Um algoritmo nada mais é do que uma série de prescrições de como lidamos com a tecnologia. Ou seja, ela dita como a utilizamos. Nada mais é do que opressão embutida em código.
Então, o livro, em linhas gerais, aborda como populações são oprimidas. No caso, trato dos moradores das favelas de Vitória que utilizavam tecnologias para negociar e sobreviver às opressões tanto on-line quanto off-line e até conseguiam prosperar ou encontrar uma libertação através da apropriação dessas tecnologias.
IHU – O seu livro começa com um debate sobre “tecnologia mundana”. Do que se trata esse conceito/expressão?
David Nemer – A tecnologia mundana é uma abordagem teórica que formulo no início do livro e apresento diversos casos de sua utilização. A tecnologia mundana não é um artefato ou espaço tecnológico ou um processo tecnológico. É o processo dos oprimidos em apropriarem-se de tecnologias para a sua libertação. Essa tecnologia pode ser tanto um espaço, como um telecentro ou lan house, quanto um artefato, como um celular, ou um processo, como um reparo, a gambiarra ou o “gato”.
A tecnologia mundana também trata do dia a dia porque, quando falamos em problemas sociais ou soluções para eles, muito se diz sobre novas inovações. Só que a inovação geralmente nunca chega às pessoas que sofrem opressões e problemas. Para falar a verdade, a inovação demora muito para chegar até essas pessoas. Nesse sentido, trato da tecnologia mundana como a apropriação da tecnologia do dia a dia, como o e-mail, o uso de uma selfie, o uso do “gato” para reparar a falta de infraestrutura. É essa tecnologia que causa impacto na vida das pessoas oprimidas, ou seja, o que faz parte do dia a dia delas.
Se pensarmos em uma inovação para resolver o problema da seca e da falta de água, vamos pensar em uma supermáquina que consegue extrair água; mas, até que ela chegue aos que necessitam, demoraria muito. Por isso é preciso sair dessa ideia de esperar uma inovação para salvar as pessoas – até porque a tecnologia não vai salvar ninguém – e focar no uso das tecnologias no dia a dia porque é isso que vai gerar impacto maior na vida das pessoas.
IHU – Como as redes sociais contribuem para a quebra do silenciamento das populações marginalizadas nas favelas?
David Nemer – Redes sociais podem oferecer um espaço do qual os moradores das favelas se apropriam para se manifestar, para se comunicar e, justamente, quebrar a cultura do silêncio que muitas vezes é reforçada pelo movimento do tráfico e pelo preconceito das classes mais altas, que são forças de opressão. No livro, conto a história da Jack, que usava a selfie para romper com o silêncio. Em um dos tiroteios que presenciamos na favela, fomos para uma lan house, que era um espaço neutro onde as pessoas se sentiam seguras. Lá, ela tirou uma selfie e a postou no Facebook.
A selfie era para mostrar, aos amigos e familiares, que ela não estava feliz com a situação que estava acontecendo na comunidade. Depois de algum tempo, quando ela se acalmou, um homem ligado ao tráfico a chamou para conversar e perguntou se era ela naquela foto. Ele disse que se ela não estivesse contente morando na comunidade, poderia ir embora. Ela justificou a postagem da selfie dizendo que a postou porque teve uma briga com o namorado.
Então, a selfie dela tinha a intenção de comunicar seus sentimentos para a comunidade que ela tentava atingir, mas, ao mesmo tempo, conseguiu disfarçar a mensagem para quem estava fora da audiência, que era o tráfico.
Os moradores das favelas tinham muito medo de postar conteúdos públicos em páginas públicas para não pararem em sites como o “pérolas do Orkut”, que existia à época, que era um site de chacota com o que as pessoas mais pobres postavam nas redes sociais. Então, eles se comunicavam através de chats, pessoa a pessoa, ou criavam grupos específicos para se organizar e conversar livremente, sem ter o perigo do preconceito. Também se organizaram para participar das jornadas de junho de 2013.
Conto no livro o caso da Alice, de 15 anos, que estava na sétima série em uma escola pública. Ela era analfabeta funcional, não conseguia nem ler nem escrever, mas gostava de ir ao telecentro porque queria ser famosa e queria conversar com os amigos enquanto eles estavam trabalhando para estar por dentro das conversas do dia, para participar dos assuntos no encontro que faziam na pracinha da comunidade, às 6 horas. Como ela não sabia nem ler nem escrever, aprendeu lentamente a entrar no Facebook. Ela não conseguia ler as mensagens, mas conseguia “curtir” e digitar o “kkkk”. Com a ajuda do agente de inclusão digital que trabalhava no telecentro, aos poucos, ela foi aprendendo. A motivação dela era sempre estar junto com os amigos, seja on-line ou off-line.
No final dos dez meses de pesquisa, percebi que ela já estava se engajando em conversas mais complexas no Facebook e no chat, compreendia o que as pessoas estavam comentando nas fotos dela e estava conseguindo acompanhar os papos on-line para chegar na pracinha e conversar. Muitas vezes, quando conto esse caso, as pessoas dizem que o Facebook alfabetizou a Alice. Mas de jeito nenhum. Na verdade, ela se autoalfabetizou e foi a vontade dela de estar com os amigos na pracinha. Ou seja, foi o mundo off-line que a motivou a se autoalfabetizar e contar com a ajuda dos colegas para aprender a ler as conversas para não ficar de fora. O Facebook foi um espaço, uma ferramenta da qual ela soube apropriar-se para a sua libertação, que era a opressão do silêncio e do analfabetismo. Hoje ela faz vídeos no YouTube, sabe conversar, ler e escrever.
IHU – De que o modo a prática da selfie de quem é oprimido vai muito além de qualquer gesto hedonista?
David Nemer – Além desse caso que contei, vou relatar outros casos, como, por exemplo, o do André, que também era analfabeto. A mãe dele trabalhava o dia todo e não tinha com quem deixá-lo depois da escola. Era muito perigoso deixá-lo na rua sem qualquer tipo de assistência. Então, a mãe o deixava no telecentro, que era um espaço neutro, seguro, no qual as mães confiavam. Ali, eles faziam os deveres de casa e brincavam com os amigos.
A mãe sempre pedia para o André, de duas em duas horas, postar uma foto no telecentro. Assim, a timeline dele era cheia de fotos dele e a mãe curtia as fotos como sinal de que tinha visto. Achei essa forma de comunicação muito interessante e eficaz porque permitia que a mãe visse que o seu filho estava seguro. Ele não tinha celular, mas pegava o celular de algum amigo ou do agente do telecentro para postar as imagens.
Eles também usavam a selfie como modo de representatividade e empoderamento comunitário. A Andréia, de 27 anos, usava selfies para mostrar o lado bom da comunidade porque há o estigma de que a favela é um local em que não há nada de bom. Ela mostrava, com selfies, facetas da comunidade, de uma forma empoderada, como a feirinha orgânica, a pracinha, o jogo de futebol. Ela promovia a comunidade.
IHU – Qual a maior interseção de Tecnologia do oprimido – sem lembrar de Pedagogia do oprimido, seu livro, com a célebre obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido?
David Nemer – O livro é referência direta à Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Desde o início, deixo isso muito claro porque a forma como ele fala de “opressão”, “oprimido” e “opressor” é atemporal. É impressionante como a abordagem teórica dele se encaixa nesses tempos de tecnologia digital, que ele nunca viu em vida.

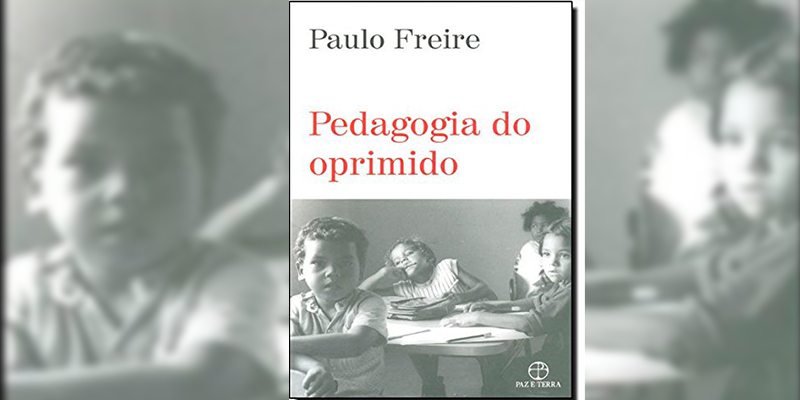
Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (Paz e Terra, 1974)
Quando defendo minha abordagem teórica, mostro como o entendimento de opressão e de prescrição, como Paulo Freire define a opressão, está definindo uma tecnologia desenvolvida. Sabemos que a tecnologia é desenvolvida através da premissa do opressor, já que é sempre desenvolvida pelas classes mais altas, naquela epistemologia branca e masculina do Vale do Silício, que não vê os marginalizados e moradores das favelas como usuários ativos dessas tecnologias. Por isso que eles lutam bastante, porque a tecnologia não foi feita para eles, mas eles lutam para fazer a tecnologia ser usada a favor deles, para trazer a libertação.
No meu livro, trago exemplos claros de como Paulo Freire pode nos ajudar a entender cada caso. Por exemplo, a cultura do silêncio é um tema de Paulo Freire e a selfie quebra com o silêncio. Outro caso é o da Alice, que foi negligenciada pelo sistema e conseguiu que o Facebook trabalhasse para ela e a ajudasse a conquistar seus objetivos.
Nas favelas, as pessoas também não entendiam por que o teclado é organizado do modo que é, com um design importado das máquinas de datilografar, que não faz nenhum sentido de ser mantido na forma digital. Mas, por questões históricas e de costume, as pessoas o mantiveram assim. Só que na favela, onde a máquina de datilografar nunca fez parte do dia a dia, para eles, não fazia sentido usar esse teclado. Eles pensavam em estipular um layout próprio. Isso fala muito sobre a resistência freireana.
Paulo Freire também fala muito da importância da conscientização. Aliás, a pedagogia do oprimido é uma expansão do que se entende por conscientização: o processo de aprender e perceber contradições sociais e políticas e agir contra esses elementos opressores da realidade. Então, é assim que mostro como os moradores de favelas usam a tecnologia para exercer sua conscientização e agir contra os elementos opressores da realidade deles.
Uma coisa interessante é que muitos me perguntam se Tecnologia do Oprimido é um livro que fala sobre tecnologias educacionais, já que Paulo Freire promoveu uma pedagogia radical. Digo que não, porque o livro não trata sobre educação em si. Cito uma entrevista que ele concedeu para o Donaldo Macedo, em que pediu para não exportarem ou importarem as suas ideias. Ele não queria ser importado ou exportado porque é impossível exportar práticas pedagógicas sem reinventá-las.
Nessa entrevista, ele pede para que recriem e reescrevam as ideias dele. É isso que faço com o livro: tento reescrever o entendimento da pedagogia do oprimido para a era da informação, do digital e dos algoritmos.
IHU – Aliás, sobre essa temática, qual a crítica feminista à Pedagogia do oprimido de Paulo Freire e como essas questões dialogam com o tema da opressão de gênero nas favelas e nos telecentros?
David Nemer – Sobre esse assunto, ele recebeu uma crítica liberada por bell hooks, que o criticou ao fazer suas análises, argumentando que ele usava uma linguagem sexista: ao invés de falar em homens e mulheres, ele fala somente em homens. É uma questão da linguagem portuguesa, que é baseada em gênero. Infelizmente, o plural, na língua portuguesa, é masculinizado. Então, se achou que isso era uma linguagem sexista e o criticaram também por não ter aprofundado o diálogo com as feministas do seu tempo e por não ter endereçado as questões de gênero em suas análises.
É interessante que ele recebeu essas críticas e, num primeiro momento, demorou um pouco para absorvê-las. Depois, explicou que quando ele fala sobre homens, as mulheres também estavam incluídas. Mas ele foi vendo que, ao usar essa linguagem, reforçaria o sexismo. Nos livros subsequentes, ele adotou uma linguagem mais inclusiva. Ele escreveu a bell hooks e às feministas norte-americanas dizendo que iria endereçar esses problemas nas escritas futuras. Desde o início, bell hooks disse que, independentemente de ele usar uma linguagem sexista, isso não invalidava seus ensinamentos. Ela nunca criticou os ensinamentos, mas a linguagem.
Sobre a opressão de gênero nos telecentros e lan houses, os dois ambientes eram codificados de acordo com gênero. Assim, a lan house era para meninos, e o telecentro, para meninas. As lan houses tinham um ambiente masculino: era possível ver cartazes de atrizes seminuas, jogos de guerra pesados. Os meninos ficavam jogando e era um ambiente mais ativo e caótico, porque eles se batiam e xingavam o tempo todo, usavam uma linguagem pesada. Os pais das meninas também não queriam que elas estivessem lá porque não queriam que elas se envolvessem com esses meninos.
As meninas sempre se interessavam em jogos, mas, como esse era um ambiente masculino, os meninos não permitiam que elas entrassem e jogassem. Então, sobrava a elas o telecentro, que tinha acesso gratuito, já que era financiado pelo governo municipal. Mas os computadores do telecentro rodavam em Linux, que não acessava os mesmos jogos que os meninos jogavam, como Xbox e PlayStation. Elas reclamavam e eram obrigadas a jogar jogos do Facebook – e essa situação faz uma crítica aos estudos de jogos, segundo os quais as mulheres não gostam de jogos realistas ou violentos. Nesse caso, elas não jogavam porque não era permitido o acesso a elas.
Essa era como se chamava a “opressão de gênero” nesses espaços. Mas ela também acontecia de forma virtual porque as mulheres que entravam no telecentro para usar o Facebook como forma de entretenimento, para passar o tempo, tinham que lidar com o assédio de homens que moravam fora da favela, considerados de classe média, que tentavam avançar sexualmente nas relações com elas. Era comum elas receberem mensagens de homens que elas não conheciam solicitando amizade.
Conto no livro o caso de uma mulher que aceitou um desses convites porque viu que tinha amigos em comum com a pessoa e, no dia seguinte, o homem enviou uma foto de um pênis para ela. Ela ficou totalmente envergonhada, desligou o computador e ficou dias sem acessá-lo. Isso ajuda a invisibilizar a mulher on-line, ou seja, não traz ela para a inclusão digital. Então, tinha o tempo todo essa questão de tentar tornar a mulher em um objeto e isso as afetava mentalmente e emocionalmente e não contribuía para a inclusão digital, porque elas tinham medo de acessar as redes.
Por exemplo, algumas meninas gostavam de participar, no Facebook, de páginas públicas. E uma delas foi comentar na página da Marina Silva, porque ela gostava das questões ambientais. No entanto, vários homens começaram a xingar ela, dizendo que mulheres não entendem de política. Ela ficou extremamente ofendida e com medo de participar de fóruns on-line de páginas públicas do Facebook. Assim, a forma que ela achou para satisfazer esse seu desejo de participar foi criar um perfil fake, com nome masculino, acreditando que assim os homens não a xingariam. Por mais que isso seja uma solução, isso não é bom porque ainda ajuda a reforçar a ideia de que a mulher não está presente na internet e com direito a sua opinião.
IHU – Em seu livro, você fala de “tecnologias do opressor”. Quais são essas tecnologias? Como elas se configuram?
David Nemer – A tecnologia do opressor segue um entendimento parecido com o da tecnologia mundana, pois essa não trata da tecnologia em si, mas a apropriação da tecnologia para a libertação. A tecnologia do opressor é justamente a apropriação da tecnologia para realizar a opressão. No livro, conto como setores da nova e da extrema direita se apropriaram das redes sociais, começando a partir de 2014, para distribuir fake news, queimar reputação alheia, até a promoção e ascensão da extrema-direita no Brasil que hoje é representada pelo Bolsonaro.
Também reflito sobre como se deram as fake news no WhatsApp bolsonarista, com uma infraestrutura humana que trabalhou arduamente para produzir, disseminar e até mesmo produzir a desinformação em 2018 e que levou à eleição de Bolsonaro.
IHU – Qual o papel das tecnologias na legitimação e propagação do extremismo de direita?
David Nemer – O extremismo da direita é muito preso na propagação das fake news, ou seja, da desinformação, porque hoje todo o entendimento do que é a fundação da extrema direita é baseado em mentiras. Você não tem como falar que um cidadão cristão é melhor do que um cidadão ateu ou umbandista ou até mesmo que um cidadão hétero é mais digno do que um homossexual. Mas é isso que Bolsonaro prega o tempo todo quando fala do cidadão de bem, da família tradicional. Assim, está o tempo todo criando essa ideia de “nós contra eles”, que é bem característica do fascismo.
E a tecnologia do opressor ajudou e mostrou que facilita muito a disseminação das fake news. Infelizmente, sabemos que nas redes sociais os algoritmos priorizam conteúdos que criam essa comoção de raiva, medo, essa comoção negativa que leva as pessoas a se engajarem mais ainda com esses conteúdos. E esse engajamento é importante para as redes sociais porque é aí que elas conseguem monetizar.
Ainda no WhatsApp, por exemplo, tem a questão do disparo em massa. Hoje, ele até vem sendo combatido pela plataforma, mas, lá atrás, não foi. Em 2018, o WhatsApp também não combateu o encaminhamento de mensagens de forma indiscriminada. Hoje, aparece quando uma mensagem é muitas vezes compartilhada. Antes, também, qualquer pessoa poderia colocar qualquer contato em grupos sem qualquer consentimento. E foi assim que muitos grupos bolsonaristas foram formados. As pessoas eram colocadas em grupos sem entender por quê. Todas essas alterações hoje fazem sentido, mas infelizmente não foram implementadas lá no passado e aí chegamos onde chegamos.
IHU – Falando de outra obra sua. Do que se trata o livro Favela digital?
David Nemer – O Favela Digital foi um projeto muito bacana que nasceu durante minha etnografia nas favelas de Vitória [no Espírito Santo], em 2013. Foi um projeto colaborativo e coparticipativo com jovens moradores das favelas em que trabalhavam, tinham algum tipo de vínculo com a Varal Comunicação, que é uma empresa de comunicação sustentável da comunidade e que mantém um jornal local.

Reprodução de uma das edições impressas do Calango Notícias | Imagem: Calango Notícias
Assim, caminhamos um mês juntos. Eles estavam precisando treinar para produzir material para o Calango Notícias, que é esse jornal local. Tiramos fotos da comunidade, com o enfoque de tirar fotos de algo tecnológico, mas que também tivesse algo de humano. Eles exercitavam buscando essa visão e mostrando esse uso tecnológico como um uso crítico, pois eram tecnologias mundanas e eles tinham que mostrar como as pessoas as usavam.

Favela Digital, de Nemer (Vitória, espírito Santos: Gsa Editora E Grafica, 2013)
Chegamos a um livro que foi um processo que fizemos juntos, desde a escolha das fotos. O dinheiro todo da venda do livro foi revertido a eles. Então, essa foi uma forma de mostrarmos como fazer o bom uso da tecnologia mundana nas favelas. Apesar de eu não falar o que é tecnologia mundana nesse livro – falei isso só no Tecnologia do Oprimido –, se revela nada mais nada menos do que o uso da tecnologia na busca pelo empoderamento dessas áreas marginalizadas e mostra o quanto fazem o uso de tecnologias de uma forma mais útil e crítica do que muitas pessoas que se julgam educadas, de classe alta.
IHU – Como, no trabalho deste livro, vocês chegaram à conclusão de que a inclusão digital nas favelas é empoderadora?
David Nemer – Esse livro é mais fotográfico, e cada foto ali traz uma história diferente. Não há uma conclusão e nem um objetivo específico além do que tratamos na resposta anterior nessa produção. Nem tínhamos essa pretensão de falar de inclusão digital, até porque o entendimento de inclusão digital é muito problemático.


Nemer na produção de fotografia com os jovens em Vitória, Espírito Santo | Foto: acervo Favela Digital
Se pensa muito que inclusão digital se dá só trazendo tecnologia para quem necessita. Isso não é verdade. Inclusão digital precisa do entendimento do contexto, precisa de ensino e de uma educação específica para a tecnologia, precisa da adaptação da tecnologia para aquele contexto. Ou seja, é um processo muito mais abrangente. O telecentro, por exemplo, e até mesmo a lan house, proporcionam essa inclusão digital porque, como espaço, também eram tecnologias mundanas dos moradores da favela. Afinal, eles conseguiam usar esse recurso da melhor forma, de maneira que empoderavam.

“Inclusão digital precisa do entendimento do contexto, precisa de ensino e de uma educação específica para a tecnologia”, explica Nemer | Foto: acervo Favela Digital
O foco da inclusão digital, por mais que se queira trazer a tecnologia para as pessoas, deve ser nas pessoas e não nos equipamentos. E isso é um dos erros que as pessoas que pensam em promover inclusão digital acabam cometendo. Por mais que uma tecnologia seja desenvolvida com a premissa de que vai servir a todos, isso não se revela como verdade. Tanto é que, em meu livro, trago diversas formas de como as pessoas resistem a isso e adaptam tecnologias elas mesmas. Inclusão digital verdadeira é aquela que vai respeitando o contexto, trazendo dados de apropriações diferentes, promovendo ações educacionais, ajudas etc.
IHU – Retomando o tema central de nossa entrevista, o que você chama de “tecnologia da esperança”?
David Nemer – Quando havia planejado o livro sobre esse tema, tinha pensado em escrever o capítulo sobre tecnologia do opressor como o último. Só que esse capítulo acaba de uma forma muito deprimente, complicada e séria, já que acaba tratando sobre como as fake news promoveram a extrema-direita no Brasil e ajudaram a oprimir ainda mais os moradores de favela. E o livro passa os outros primeiros capítulos falando dos moradores da favela. Então, não seria justo com eles.
Diante desse impasse, parei um pouco, voltei a ler Paulo Freire e li Pedagogia da Esperança. Foi aí que tive esse insight: vou fazer o último capítulo sobre tecnologia da esperança. Durante o livro todo, os moradores mostram como eles não podem perder a esperança, porque isso é parar de lutar. E se eles pararem de lutar a vida deles está em risco, não há um privilégio de parar de lutar, parar de esperançar. Foi justamente olhando esses exemplos que eu retomo esse capítulo para falar de esperança.
E Paulo Freire fala que apenas esperançar é ter esperança em vão. Nesse livro, adapto para falar que apenas usar a tecnologia é a usar em vão, porque se quisermos provocar mudanças, precisamos engajar a tecnologia, como a tecnologia mundana que os moradores da favela nos ensinaram nesse livro. É assim que volto à questão central, de que a tecnologia mundana também é a tecnologia da esperança.
Nesse capítulo, trago dois exemplos do que seria a tecnologia da esperança nesses tempos de extrema direita, de mais opressões. Um deles é a questão do movimento “Ele Não!”, que se passou muito nas redes sociais.

Arte usada como protesto durante a campanha eleições de 2018 | Reprodução Twitter
O outro exemplo foi o “breque dos apps”, que foi um movimento dos entregadores antifascistas que lutaram por direitos. Toda essa organização deles foi desde as tecnologias. Trago esses dois casos de como a tecnologia traz esperança. Eles usam, ali, a tecnologia como mundana, mas observo como a tecnologia mundana é a materialização da luta, da esperança, da resiliência do oprimido.
E, infelizmente, o oprimido tem que ser resistente e resiliente para lutar para poder fazer a tecnologia funcionar a seu favor. Por que essa tecnologia não pode chegar para eles já os empoderando? Afinal, isso tudo toma tempo e energia deles. Então, para chegar e disputar a mesma corrida que alguém que está nas classes mais altas, tem que chegar já exausto de uma luta já pré-existente, e assim nunca consegue competir com aqueles que nunca precisaram lutar.
Se realmente quisermos trazer a tecnologia igualitária que vai promover a libertação, além de trazer a consciência de tecnologia mundana, temos que trazer os oprimidos para os postos de tomada de decisão que vão realmente desenvolver essa tecnologia. Assim, ao invés de trazer mais opressão, talvez se possa trazer libertação, empoderamento.