Segundo o professor, o interesse capitalista do chamado “Big Pharma” leva ao desenvolvimento de poucas drogas que efetivamente poderiam responder a avanços em termos de saúde pública no país
Entre tantos problemas que a pandemia de Covid-19 trouxe à luz, está a vulnerabilidade de toda a população brasileira diante da gigante indústria farmacêutica. Mas, ao contrário do que propagam negacionistas e do que vociferam os adeptos do movimento anti-vacina, não se trata de considerar que essa indústria cria monstros através de vacinas. O que há é um problema ético em que se desenvolvem medicamentos para diversas doenças que representam muito mais lucro para as empresas do que efetivamente avanços do ponto de vista de políticas de saúde coletiva. No caso do Brasil, ainda há um vazio legal que torna esse um campo ainda mais obscuro. “O ‘Big Pharma’ é ainda responsável pelo desenvolvimento da maior parte das chamadas pesquisas clínicas desenvolvidas no Brasil, financiando-as e administrando-as, tendo como objetivo último, além do lucro, a aprovação de novos produtos a serem inseridos no mercado nacional”, aponta o professor Volnei Garrafa.
Na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, ele ainda explica que “sabe-se hoje, por meio de representativa quantidade de estudos publicados, que não passa de 10% o número de novas substâncias ativas colocadas no mercado em comparação com aquelas já existentes; é pontual, portanto, a descoberta de novas moléculas, essas sim, realmente inovadoras”. “Além dos mínimos níveis de inovação proporcionados, a atuação do complexo farmacêutico-industrial, seja no contexto internacional ou no brasileiro, ultrapassa a simples concepção e fabricação de medicamentos e insumos”, completa.
E as universidades e centro públicos de pesquisas? “Seria ingenuidade pensar que universidades e centros de pesquisa tenham força política para enfrentar a poderosa indústria farmacêutica, especialmente a internacional, unicamente por meio da criação de Comitês de Ética em Pesquisa ou de resoluções bem-intencionadas de proteção contra as insistentes pressões externas para ‘flexibilizar’ normas mundialmente consolidadas”, responde Garrafa. É o grande problema causado por esse vazio legal. “Uma legislação adequada deve responder cientificamente aos interesses epidemiológicos do país – às doenças mais prevalentes na nossa realidade”, sugere.
Ao longo da entrevista, o professor Garrafa ainda discute outros dilemas éticos no campo da saúde. Entre eles a relação entre médico e paciente, um outro ponto nevrálgico revelado na pandemia. “A relação médico-paciente é até hoje regulada unilateralmente pelos Conselhos Regionais e Federal de Medicina. Digo ‘unilateralmente’ porque a voz do paciente torna-se frágil diante do aparato geralmente suntuoso”, observa. Por fim, também faz uma análise da experiência da pandemia no Brasil. “Diante da realidade que foi vivenciada no Brasil, muitas mortes por COVID-19 podem, então, ser caracterizadas como resultantes de mistanásia, esta entendida como uma morte miserável e antes da hora, por motivos políticos, sociais e/ou econômicos”, dispara.

Volnei Garrafa (Foto: Arquivo pessoal)
Volnei Garrafa é graduado em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –PUC-RS e especialista em Cancerologia Bucal pela Associação Paulista de Combate ao Câncer Hospital A. C. Camargo. Possui ainda Doutorado em Ciências pela Universidade Estadual Paulista – Unesp e estágio pós-doutoral em Bioética pela Universidade La Sapienza, de Roma, na Itália. Atuou como Professor Titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília – UnB. Foi, também, diretor do Centro Internacional de Bioética e Humanidades, coordenador do Programa de Pós-graduação em Bioética - Mestrado e Doutorado Acadêmico, atuando hoje como pesquisador associado do programa. Entre os inúmeros artigos acadêmicos e livros publicados, destacamos o livro Solidariedade Crítica e Cuidado: Reflexões Bioéticas (São Paulo: Edições Loyola, 2011), organizado juntamente com José Roque Junges.
IHU – O que a ampla prescrição do chamado “kit Covid” revela sobre as lógicas de algumas operadoras de planos de saúde?
Volnei Garrafa – Revela muitas coisas, infelizmente negativas. Vou ater-me a uma que avalio como central: a exploração da fragilidade decorrente de uma situação dramática na qual indivíduos e famílias se encontram especialmente debilitadas física e emocionalmente. Neste contexto, uma operadora, por meio da prescrição de medicação de uso domiciliar e baixo custo – que se revelou cientificamente ineficaz e mesmo contraindicada para o controle da Covid –, aproveita a situação para evitar internações prolongadas e economicamente desinteressantes e assim, paradoxalmente, diminuir seus custos operacionais e aumentar lucros em meio à crise sanitária e sofrimento geral.
Como pano de fundo para a situação e favorecendo esse tipo de ação, em um panorama de extrema emergência sanitária coletiva, pairava escancarada a caótica situação político-social que o país atravessa até hoje, permeada pela completa ausência de campanhas públicas sistematizadas de informação em nível nacional, acrescida por criminosa produção de mentiras que geraram desinformação, dúvidas e insegurança na população que, confusa e fragilizada, ficou à mercê de grupos médicos gananciosos e de políticos mal intencionados.
IHU – Como podemos compreender o fato de operadoras de saúde, como a Prevent Senior, se lançarem em experimentos e pesquisas? Há operadoras no Brasil que têm investido em pesquisas? Quais as implicações éticas nesses casos?
Volnei Garrafa – Até essa pandemia eclodir, não se tinha notícia de interesse em pesquisas pelas operadoras de saúde no Brasil, um país no qual a quase totalidade das pesquisas biomédicas é desenvolvida nas universidades públicas com recursos do Estado (cada dia mais escassos...) ou financiada por laboratórios internacionais interessados. Considero um verdadeiro “desvio de função” o fato de operadoras de saúde como a Prevent Senior começarem a se dedicar às pesquisas biomédicas exatamente em um delicado e complexo momento de pandemia. Não tenho dúvidas que incursões por essa seara específica, em meio a uma grave crise sanitária de âmbito mundial, denotam um inusitado oportunismo em obter alguma vantagem, direta ou indireta, desse tipo de empreitada completamente alheia às verdadeiras atividades fim de operadoras de saúde.
Entre as implicações éticas relacionadas a esse contexto, é central o desvio da função precípuo da operadora. Além do mais, em meio a uma situação concreta de colapso sanitário, com elevado número de óbitos diários registrados nos hospitais e com determinados protocolos clínicos já configurados, não é eticamente correto priorizar experimentos e pesquisas em detrimento da própria atenção emergencial à saúde de seus pacientes em estado grave.
IHU – No caso da Prevent Senior, muitos pacientes alegam ter sido incluídos nas pesquisas sem consentimento. Para o senhor, isso ocorre por falhas na legislação acerca da regulação de pesquisas com seres humanos ou temos muito mais um problema ético?
Volnei Garrafa – Não pode haver falha na legislação no caso brasileiro, pela simples razão de que o país não conta com uma lei específica neste sentido. Contamos somente com uma Resolução do Conselho Nacional de Saúde editada em 1996 e revista em 2012, mas que não tem poder de lei, configurando-se juridicamente apenas como um “indicador moral” para o setor. No contexto histórico da área, existe desde 1947, ou seja, há ¾ de século, o Código de Nuremberg, documento internacional de notável respeitabilidade ética, criado a partir do julgamento dos médicos alemães que desenvolveram pesquisas absurdas com prisioneiros dos campos de concentração sob o jugo da Alemanha nazista.
Nele, ficou mundialmente acordado que nenhuma ação clínica poderia ser desenvolvida em um indivíduo a partir de então, sem o seu devido consentimento. O tema do consentimento é tão importante no contexto da bioética que um dos mais respeitados estudiosos da área, o médico e filósofo estadunidense já falecido H.T. Engelhardt Jr., substituiu na sua obra o referencial da autonomia pelo princípio do consentimento.
Caso fique comprovado que a Prevent Senior desenvolveu pesquisas clínicas em seus pacientes sem o devido e regular consentimento destes, o fato se configura claramente como grave infração ética. Documentos internacionalmente construídos na linha do Código de Nuremberg são considerados no âmbito do direito internacional como “normas não vinculantes”, ou seja, não têm poder de lei. Contudo, muitas das “Declarações” promovidas por agências das Nações Unidas ganharam notabilidade, especialmente a partir da prisão do ditador chileno Augusto Pinochet, em Londres, pelo juiz espanhol Baltazar Garzón.
Na prática, portanto, pelo poder moral conquistado, elas acabaram conquistando a atenção do direito internacional. Neste sentido, embora na legislação brasileira não esteja explicitamente configurado como crime a inclusão de indivíduos em estudos clínicos sem o devido consentimento destes, seus operadores podem perfeitamente serem levados às barras da Justiça com base em documentos internacionais como o acima citado ou mesmo em outros similares também existentes, como a Declaração de Helsinque, de 1964, dedicada especificamente às pesquisas com seres humanos e que, igualmente ao Código de Nuremberg, inclui a obrigatoriedade da aquiescência formal da pessoa para participar em qualquer estudo clínico. No Brasil, como referi anteriormente, dispomos apenas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que se manifesta na mesma direção.
IHU – A pandemia trouxe à tona muita discussão em torno do que foi chamado de "pressão dos laboratórios e indústria farmacêutica". Mas que pressão é essa?
Volnei Garrafa – Atualmente, o chamado “complexo farmacêutico-industrial”, também conhecido como “Big Pharma”, está entre os setores econômicos mais poderosos e rentáveis do mundo, imediatamente atrás da indústria bélica e da produção de drogas ilícitas. Ao utilizar a expressão “complexo farmacêutico-industrial”, me refiro ao conjunto de empresas de grande porte dedicadas à fabricação de medicamentos, vacinas e demais insumos (equipamentos, instrumental, etc.) para a saúde.
Se o custo de um determinado medicamento já é muitas vezes inalcançável para representativa parcela da população, imaginemos os custos financeiros cumulativos, dia após dia, para o portador de uma doença crônica como diabetes ou hipertensão... Ou, o que dizer das vacinas, onde estamos frente a enormes contingentes populacionais que chamo de “usuários compulsórios”, embora nesses casos as negociações comerciais e o os custos estejam em grande parte sob a responsabilidade direta do Estado? Com mais de 210 milhões de habitantes, é notório que toda a imensa estrutura comercial de âmbito global acima referida atue fortemente no Brasil, com influência direta sobre nossos sistemas de saúde.
O “Big Pharma" é ainda responsável pelo desenvolvimento da maior parte das chamadas pesquisas clínicas desenvolvidas no Brasil, financiando-as e administrando-as, tendo como objetivo último, além do lucro, a aprovação de novos produtos a serem inseridos no mercado nacional. A pesquisa clínica, portanto, está intimamente vinculada às necessidades de ampliação do mercado para estes laboratórios/empresas.
Neste sentido, é indispensável registrar que, especialmente nas últimas duas décadas, tais estudos clínicos já ultrapassaram sua finalidade de expansão tecnológica em favor da saúde da população, configurando-se como um novo campo de negócios altamente lucrativo, passando a requerer especialmente da bioética um olhar muito mais acurado e crítico. O volume do faturamento e dos recursos movimentados pelo complexo farmacêutico-industrial, contraditoriamente, não acompanha a produção de novas drogas de baixo custo indicadas ao tratamento e cura das doenças (muitas delas completamente negligenciadas...) que atingem majoritariamente a população dos países periféricos onde essas pesquisas são realizadas.
Sabe-se hoje, por meio de representativa quantidade de estudos publicados, que não passa de 10% o número de novas substâncias ativas colocadas no mercado em comparação com aquelas já existentes; é pontual, portanto, a descoberta de novas moléculas, essas sim, realmente inovadoras. Desse modo, muitas dessas “novas drogas” consistem unicamente no aprimoramento – por meio de pesquisas de competitividade comercial – de substâncias já aprovadas e disponíveis no mercado. A grande maioria do tal grupo de drogas, que recebem nos organismos controladores um novo registro, é chamada nos meios biomédicos jocosamente de “me too drugs” - drogas “eu também” -, ou seja, que não representam nenhuma novidade terapêutica, mas que, a partir das “pesquisas” acima explicadas, adquirem potencial interesse competitivo com similares já existentes no mercado ou mesmo por meio de outros usos possíveis.
Portanto, para além dos mínimos níveis de inovação proporcionados, a atuação do complexo farmacêutico-industrial, seja no contexto internacional ou no brasileiro, ultrapassa a simples concepção e fabricação de medicamentos e insumos.
IHU – Em que medida universidades e centros de pesquisas estão expostos a essa pressão da indústria farmacêutica? Como proteger essas instituições e assegurar que avancem cientificamente sem infrações bioéticas?
Volnei Garrafa – Respondo essa pergunta utilizando a linha de raciocínio usada por jovens ativistas climáticos em contraposição crítica aos líderes mundiais que participaram da pífia Conferência do Clima promovida pela ONU recentemente em Glasgow, Escócia: “Vocês, ao invés de procurar respostas concretas em defesa do planeta e das futuras gerações, ainda estão preocupados com coisas do tipo ‘separação do lixo urbano’”.
Igualmente, seria ingenuidade pensar que universidades e centros de pesquisa tenham força política para enfrentar a poderosa indústria farmacêutica, especialmente a internacional, unicamente por meio da criação de Comitês de Ética em Pesquisa ou de resoluções bem-intencionadas de proteção contra as insistentes pressões externas para “flexibilizar” (prefiro usar a palavra “afrouxar” que me parece mais apropriada à situação aqui debatida...) normas mundialmente consolidadas. A questão, portanto, é muito mais profunda! Requer do governo e especialmente do Congresso Nacional posicionamentos claros e corajosos em defesa das boas práticas de pesquisa por meio de legislações moralmente justas e juridicamente firmes, que protejam adequadamente as pessoas mais vulneráveis e os interesses nacionais maiores.
O significado dessa afirmação é que uma legislação adequada deve responder cientificamente aos interesses epidemiológicos do país – às doenças mais prevalentes na nossa realidade –, uma vez que mais de 90% das pesquisas clínicas aqui desenvolvidas dizem respeito majoritariamente a estudos multicêntricos internacionais nas Fases 3 ou 4, e em índice menor na Fase 2, e de interesse secundário às enfermidades mais comuns que afligem nossa população. Ou seja, não correspondem a pesquisas realmente originais de Fase 1, que correspondem a uma fatia mínima no contexto das pesquisas clínicas em âmbito nacional.
As universidades públicas brasileiras, por falta de recursos e em alguns casos pelo interesse pontual de pesquisadores ou grupos destes mais preocupados com notoriedade acadêmica, acabam priorizando esse tipo de pesquisa que pouco ou nenhum avanço traz à ciência; pelo contrário, em sua esmagadora maioria, consistem apenas na mera busca de melhor competitividade comercial entre medicamentos já existentes, embora o custo final do remédio na farmácia raramente baixe... E o pior: usando infraestrutura brasileira sem nenhum ressarcimento ao erário público, uma vez que a maioria dos usuários desses estudos é paciente do SUS, com a utilização, portanto, da infraestrutura ambulatorial ou hospitalar nacional assim como dos recursos humanos locais indispensáveis ao andamento do estudo (funcionários administrativos e pessoal de apoio pagos pelo Estado, equipamentos, insumos, etc. etc.).
Agora, atendendo concretamente à pergunta acima formulada, respondo com convicção que o país clama com urgência por uma legislação adequada que proporcione sustentação jurídica protetora a um setor historicamente pouco considerado. Mas, o que se pode esperar em termos de uma intervenção do Congresso Nacional brasileiro, que parece mais preocupado em atender à chamada “base de apoio” do governo com vultosos recursos oferecidos a parlamentares por meio de “orçamentos secretos” dependentes de uma simples “emenda do relator” que posteriormente se configuram nas já tristemente famosas “emendas parlamentares”?
Aliás, o campo biotecnocientífico brasileiro como um todo está completamente abandonado há décadas nesse particular, atravancando e atrasando o desenvolvimento científico e tecnológico no país por irresponsabilidade de um Congresso Nacional no qual até mesmo interesses religiosos conservadores impedem indispensáveis avanços, por exemplo, para citar apenas um, no campo das novas tecnologias reprodutivas. É inacreditável que o primeiro “bebê de proveta” brasileiro tenha nascido em 1984 – há quase quatro décadas, portanto – e ainda caminhamos em um verdadeiro deserto legislativo nesse particular, deixando assuntos de tamanha relevância técnica e moral sob a responsabilidade de conselhos profissionais (como o notoriamente atrasado e reacionário Conselho Federal de Medicina) com suas resoluções setoriais, que acabam repassando ao judiciário a criação de jurisprudência em razão dos vazios jurídicos existentes.
Aqui, então, emerge um enorme aleijão democrático no país pelo fato de, frequentemente e por necessidade, o judiciário se ver obrigado a ocupar o papel legislativo, o que sem dúvida enfraquece ainda mais nosso já frágil estamento democrático. A última legislação neste sentido - e que apenas tangencia o tema aqui analisado - foi a Lei de Biossegurança, aprovada no já distante ano de 2005, que tratava do controle dos organismos geneticamente modificados e do funcionamento da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança). Mais recentemente, há cerca de 5-6 anos, a indústria farmacêutica - cuja liderança era então exercida pelo ex-governador gaúcho Antonio Brito - deu entrada no Congresso Nacional em um Projeto de Lei (PL) por meio da senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS), com o qual era proposto praticamente o desmantelamento do Sistema CEP/Conep de controle nacional das pesquisas com seres humanos.
Com a suspeita justificativa de que o sistema estava “atrasando” o desenvolvimento das pesquisas no país, os mentores do famigerado projeto pretendiam simplesmente tirar do Estado o controle do setor, deixando-o a cargo de insólitos “comitês independentes”. O referido PL vem sendo discutido até hoje no Congresso Nacional, com vários apensamentos vindos de parlamentares preocupados com a defesa do sistema público atualmente vigente. Se o atual modelo brasileiro de controle ético às pesquisas hoje apresenta fragilidades - e as tem -, essas necessitam ser devidamente corrigidas e não simplesmente o sistema todo ser descartado, como jogar fora a água da banheira com a criança junto, apagando completamente uma história penosamente construída no país ao longo dos últimos 25 anos.
IHU – Se de um lado há pressão de laboratórios sobre pesquisas com novas drogas, de outro há uma presença constante de representantes de laboratórios em consultórios médicos de diversas especialidades. Não há nesses casos uma certa pressão também? Que questões éticas estão em jogo quando um médico recebe no seu local de trabalho alguém para "divulgar" um medicamento?
Volnei Garrafa – Fazendo parte do amplo conjunto de relações mercantis do complexo farmacêutico-industrial, com o intuito de tornar seus produtos mais conhecidos por meio de estratégias publicitárias, está incluído, entre outras iniciativas e promoções, o assédio permanente dos ditos “representantes comerciais” dos laboratórios que compõem o complexo a médicos e estudantes de medicina – possíveis futuros prescritores – principalmente através de ampla distribuição de amostras grátis de medicamentos, fato permanentemente acompanhado pelos pacientes frequentadores de consultórios médicos. Além disso, é de domínio público o continuado oferecimento, especialmente a médicos de determinadas especialidades, de viagens ditas científicas, além do patrocínio a reuniões e jantares de confraternização.
Nesse contexto está incluída, além de médicos, a participação em congressos de profissionais de diferentes áreas da saúde que possam trazer como resultado algum benefício em troca (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, odontólogos, psicólogos...), bem como da produção de material publicitário com roupagem técnico-científica e outras benesses de menor visibilidade. Em uma pesquisa que publicamos no tradicional Journal of Medical Ethics que tinha por título “Between the needy and the greedy: the quest for a just and fair ethics of clinical research” (Entre a necessidade e a ganância: a busca por uma ética justa e adequada para as pesquisas clínicas) já denunciávamos em 2010 o significado e a amplitude do contexto aqui tratado.
Nele mostramos que em 2005 – há 16 anos, portanto – o mercado farmacêutico já gerava anualmente nada menos que 590 bilhões de dólares. Naquele mesmo ano, apenas oito empresas farmacêuticas internacionais haviam sido responsáveis por cerca de 40% de toda a receita mundial do setor. Um mercado cativo de pacientes portadores de doenças crônicas e já explicado em uma pergunta anterior, somado ao monopólio de patentes, são os principais fatores que determinam esses estratosféricos ganhos por parte da indústria.
Na época em que o artigo foi escrito, existiam nos Estados Unidos cerca de 80 mil representantes de produtos farmacêuticos. Na Alemanha, o número atingia nada menos que 17 mil representantes para aproximadamente 130 mil médicos, o que significava uma proporção de 7,64 médicos para cada representante de vendas. Esses números foram semelhantes aos encontrados na Grã-Bretanha e França, demonstrando cabalmente a força de pressão desses conglomerados internacionais de medicamentos e insumos médico-hospitalares sobre as categorias profissionais da área, notadamente a categoria médica.
IHU – Como o senhor analisa o papel e o trabalho realizado hoje pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep? Em que medida um fortalecimento dos comitês de ética e pesquisa agilizaria os processos na Conep?
Volnei Garrafa – O sistema que relaciona o verdadeiro exército de mais de 850 Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) existentes no país com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (Conep), denominado Sistema CEP/Conep, foi criado em 1996 e efetivamente implantado no ano seguinte. Já conta, portanto, com uma história de 25 anos ininterruptos de vida. Tive o prazer de fazer parte do primeiro grupo de pesquisadores que compôs a Conep entre os anos 1997 e 2003. Foram anos particularmente difíceis de trabalho voluntário e muito duro, sem qualquer ganho financeiro (o que acontece até hoje), em que foram pioneiramente estabelecidos os primeiros referenciais relacionados com a ética em pesquisas com seres humanos no país.
O sistema sem dúvida avançou no transcurso desses 25 anos, com a construção e homologação, pelo Conselho Nacional de Saúde, de sua Resolução Básica de número 196 datada de 1996 e revista em 2012 sob o número 466, conjuntamente a várias outras resoluções complementares direcionadas a temas que requeriam atenção mais específica (povos indígenas, genética humana, armazenamento de material biológico, etc.). Apesar desses avanços, não há dúvida que o processo de desenvolvimento do complexo industrial de medicamentos no país, especialmente pela indústria transnacional, avançou com uma rapidez muito maior que o sistema nacional de regulação e controle aqui relatado. Hoje, a complexidade das novas demandas, aliada ao poder conquistado no âmbito sociopolítico nacional e as pressões permanentes dos laboratórios farmacêuticos por urgência não foram acompanhadas no sentido defensivo e de ajustes pelo sistema CEP/Conep.
Registre-se que os recursos e a infraestrutura fornecida pelo Ministério da Saúde são historicamente insuficientes para atender as demandas do setor, no qual servidores públicos abnegados desdobram-se fazendo o possível com a frágil estrutura operacional disponível. Há cerca de dois meses, uma minha orientanda de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília defendeu sua tese avaliando exatamente esse particular. A conclusão a que se chegou foi de que, apesar de todas as dificuldades, o sistema ainda é o que melhor funciona em toda América Latina. Contudo, está requerendo ajustes urgentes exatamente para responder às permanentes pressões (muitas delas injustas e despropositadas...) das indústrias.
A referida tese sugeriu uma urgente e profunda mudança no funcionamento do Sistema CEP/Conep, resumidamente com a seguinte base:
1) Criar um corpo de profissionais de reconhecido domínio técnico não só dos temas biomédicos relacionados diretamente às pesquisas clínicas que alcançam quase 90% do total dos processos avaliados pelo sistema, mas também de estatísticos, advogados, epidemiologistas e inclusive economistas disponíveis, por exemplo, para avaliar o impacto econômico do estudo na realidade brasileira, ou seja, se a pesquisa interessa ou não ao país;
2) Manter e ampliar o atual corpo de servidores da Conep que manteria a relação com os CEP existentes no país, mas em outro âmbito, assumindo especialmente a tarefa de acompanhamento rigoroso das pesquisas em suas diferentes fases e momentos, fato até hoje nunca executado, por exemplo. O protocolo da pesquisa é aprovado e posteriormente não recebe o indispensável acompanhamento técnico para constatar se o que foi exigido no parecer técnico está sendo de fato corretamente executado (a aplicação do medicamento, suas doses, efeitos colaterais, eventuais óbitos, etc.).
Enfim, em resumo, o Brasil dispõe de uma boa base inicial para aprimorar seu sistema, mas este requer ajustes imediatos para consertar o que está faltando, e até mesmo para resistir às repetidas pressões da indústria farmacêutica no sentido circunstancial de afrouxamento de regras – inclusive internacionalmente consolidadas – de controle ético para o setor.
IHU – O senhor afirma que a política brasileira de enfrentamento à pandemia foi uma “mistanásia”. Por quê? Como podemos evitar que uma caótica política sanitária se repita em uma outra possível pandemia?
Volnei Garrafa – Trabalhei esse tema recentemente com a colega Karla Amorim, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em um artigo que publicamos na Revista da Rede Latino Americana e do Caribe de Bioética da Unesco (Revista Redbioética), que teve por título “Uma análise ética dura das mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil”. Nele utilizamos algumas reflexões contidas em um capítulo que tem por título “Ricos e Pobres”, do livro “Ética Prática”, de autoria do filósofo e bioeticista australiano Peter Singer, que escreveu sobre a obrigação ética de se ajudar a salvar a vida de quem está em perigo em razão de uma situação de pobreza absoluta.
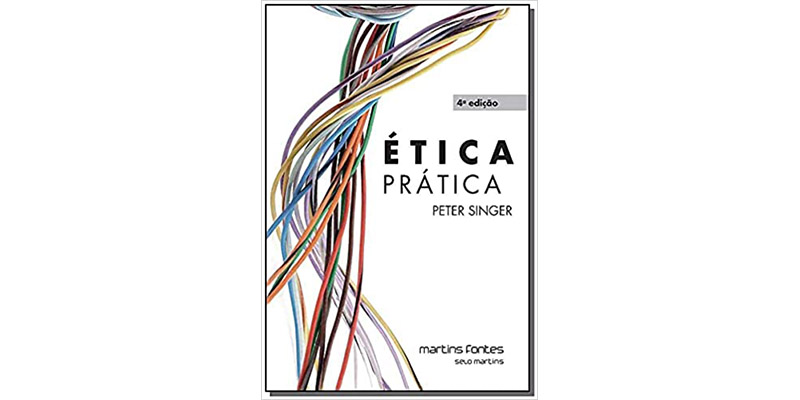
Ética Prática, de Peter Singer (São Paulo: Martins Fontes, 2018)
Segundo ele, nessas situações não há diferença intrínseca entre matar e deixar morrer pois, independentemente das condutas, o resultado será a morte, quando se pode impedir que esta ocorra sem sacrifício de algo que tenha a mesma importância moral. Sua argumentação central defende que “... se pudermos impedir que algo de ruim aconteça sem termos de sacrificar nada de importância moral comparável, devemos impedir que isso aconteça”. Nessa linha, conclui que se deve impedir a existência de uma parcela de pobreza absoluta, argumentando que esse dever moral possível de ser feito visando evitar algo de ruim - a exemplo da morte - refere-se tanto aos governos no sentido de cumprir com sua responsabilidade, quanto a cada cidadão individualmente.
Singer completa seu raciocínio dizendo que, se tal omissão evitável causar a morte de pessoas, este ato negligente equivale moralmente a um assassinato. Na análise que fizemos Karla e eu no artigo que menciono acima, substituímos a questão da pobreza absoluta pela expressão “mortes decorrentes da COVID-19”. Neste sentido, se o governo brasileiro, no seu dever de agir, pôde concretamente impedir que mortes acontecessem, sem sacrificar nada de importância moral comparável, e não o fez, milhares de mortes teriam sido evitadas.
Tal conduta omissa, então, teve o equivalente valor moral de uma política homicida. A depender da situação, esta política pode ser considerada culposa (quando envolve negligência, imprudência ou imperícia) ou, até mesmo, dolosa. Quanto ao dolo, vislumbra-se e espera-se que seja um dolo eventual (quando não há vontade com relação ao resultado, mas se assume o risco de produzi-lo, a exemplo da não adoção do isolamento social como diretriz de Estado), pois seria inumana a outra perspectiva de dolo (quando se deseja o resultado fatídico).
Diante da realidade que foi vivenciada no Brasil, muitas mortes por COVID-19 podem, então, ser caracterizadas como resultantes de mistanásia, esta entendida como uma morte miserável e antes da hora, por motivos políticos, sociais e/ou econômicos. Uma morte mesquinha, cruel e possível de ser evitada. Caso tenha prevalecido a omissão e/ou descaso de algum agente moral aqui analisado (no caso, o governo brasileiro...) no enfrentamento da pandemia, deixando de fazer o que deveria e/ou poderia ser feito para evitar ou minimizar o elevado número de mortes de pessoas, esse agente moral passa a ser responsável ou partícipe de conduta com valor moral equivalente a um assassinato, no dizer de Singer; por vezes, culposo, doloso e/ou mistanásico.
Defendemos tal posição dura no artigo, pois na linha de reflexão desenvolvida procuramos demonstrar, com referência nas ideias de Singer, que não há diferença intrínseca entre matar, contribuir com as mortes e deixar morrer, quando estas mortes poderiam ter sido evitadas, sem comprometer nada de valor moral igualmente relevante. Diante de tudo isso, a pandemia demonstrou que expressivo número de mortes ocorridas no Brasil, mais que fenômenos biológicos, foram e ainda são processos também sociais e éticos. E, assim, grande parte dos mais de 600 mil óbitos decorrentes da COVID-19 no país não podem nem devem ser consideradas como fatalidade.
IHU – O que mais a pandemia de Covid-19 ensina ao Brasil em termos de pesquisas na área de saúde e com seres humanos?
Volnei Garrafa – O principal problema registrado com relação ao controle ético das pesquisas com seres humanos no período da pandemia de Covid-19 no Brasil foi o grande número de protocolos a serem avaliados por um contingente relativamente pequeno de profissionais especializados e com escassa estrutura de apoio. No referido período, a Conep organizou um fluxo contínuo e diário de avaliação dos protocolos que davam entrada no sistema, com velocidade compatível às pressões da indústria e mesmo das universidades. Contudo, é indispensável registrar que esse processo até hoje não foi devidamente avaliado, o que naturalmente deixa algumas dúvidas com relação não somente à qualidade dos pareceres emitidos, mas especialmente com vistas às questões de segurança dos pacientes com eles relacionados.
O elevado número de protocolos de pesquisa gerado a partir da excepcionalidade da situação de pandemia mostrou de modo ainda mais agudo o que já se sabia, ou seja, que apesar do sistema demonstrar um funcionamento e uma resistência histórica elogiável, já está mais do que na hora do Estado, por meio do Ministério da Saúde, apoiar administrativa e financeiramente a abertura urgente de um processo de atualização e renovação do sistema CEP/Conep. Tal processo deve acontecer não só no sentido de responder às pressões do complexo farmacêutico-industrial, mas, principalmente, de dar proteção adequada aos pacientes participantes dos estudos clínicos, especialmente aqueles mais pobres e vulneráveis, além de firmar a ampliação do leque de suas atribuições, requerendo a análise rigorosa e em profundidade do tipo de pesquisa que está sendo desenvolvido e se essas pesquisas são realmente de interesse sanitário e econômico para o país.
IHU – O uso dos chamados tratamentos precoces contra Covid também trouxe à tona o debate sobre a relação entre médico e paciente. Como os senhor vê essa relação hoje? O que deve mudar e o que precisa ser feito para que essas mudanças se efetivem?
Volnei Garrafa – A relação médico-paciente é até hoje regulada unilateralmente pelos Conselhos Regionais e Federal de Medicina. Digo “unilateralmente” porque a voz do paciente torna-se frágil diante do aparato geralmente suntuoso, da força política e do próprio corporativismo profissional. Quanto mais atrasado e conservador é o país, mais fortes e vistosos são seus conselhos de classe, especialmente aqueles que reúnem médicos e advogados.
Nesta altura do século 21, iniciativas positivistas de origem maçônica de autoproteção, como são as representações deste tipo, deveriam ser desativadas e substituídas pelo uso regular do próprio poder Judiciário quando for requerida a necessidade de resolução para algum contencioso entre profissional e paciente. Aliás, esse sistema existente no Brasil, com entidades profissionais tendo seus conselhos de classe com o status de autarquia federal, cobrando altas anuidades dos profissionais que já pagam seus impostos ao Estado, não existem nas sociedades democráticas modernas nas quais o Estado, diretamente, por meio de seus mecanismos locais, regionais e nacionais de controle e apoio em retribuição aos impostos pagos pelo profissional contribuinte, cobre perfeitamente as funções exercidas por essas vetustas e onerosas estruturas aqui existentes.
Nesta altura do Século 21, também começam oportunamente a florescer estudos e organizações de defesa dos pacientes e/ou usuários de modo geral. Na UnB, a Professora Aline Oliveira criou recentemente no Programa de Pós-Graduação em Bioética um Observatório de Direitos Humanos dos Pacientes, com âmbito regional latino-americano, o qual começa a produzir pesquisas e conhecimentos originais no sentido de pressionar o setor médico-biológico por mudanças com vistas à construção de relações humanas mais equânimes, equilibradas e justas entre pacientes e profissionais das diferentes profissões da saúde.
Por outro lado, para concluir essa questão, registro ainda minha inconformidade diante dos ultrapassados códigos de ética profissional das diferentes profissões do setor da saúde. Os referidos códigos são de natureza exclusivamente deontológica, ou seja, baseados no cumprimento de rigorosas e antiquadas proibições e deveres morais, quando já deveriam ter avançado para contemporâneos “códigos bioéticos” pautados na responsabilidade do profissional para com seus pacientes. Em um estudo quanti-qualitativo que desenvolvemos especificamente com o código de ética odontológica, concluímos que mais de 70% dos seus artigos tinham o profissional como sujeito dele. A conclusão da pesquisa, que deixaria Kant indignado, mostrou que, nesse código, o paciente, ao invés de ser o “sujeito natural” do processo, aparece como mero “objeto” para referenciamento do exercício da odontologia pelo profissional ao qual o código é dedicado.
IHU – E sobre o SUS, como o sistema sai dessa experiência da pandemia?
Volnei Garrafa – Tive oportunidade de conversar recentemente com várias pessoas amigas cujas famílias fazem parte das classes econômicas C e D de acordo com a classificação do IBGE, e elas são unânimes em afirmar que não conseguem imaginar como estaria o Brasil após a pandemia sem a existência do SUS. O SUS é atualmente responsável pelo atendimento direto de 75% da população do país que não dispõe de recursos para pagar planos de saúde ou médico particular. Imaginemos, então, o caos que seria se esse imenso contingente de mais de 150 milhões de pessoas não tivesse o SUS para recorrer nestes tempos sombrios, seja para cuidar da Covid-19 ou para receber as indispensáveis vacinas que tão tardiamente chegaram ao país.
O grande desafio do SUS - de uma vez por todas - é ter sua importância compreendida pela população brasileira que, paradoxalmente, vem votando em políticos que defendem a privatização do nosso sistema de saúde conquistado tão a duras penas na Constituição de 1988. É uma contradição termos, como ministros da saúde, deputados como o Luiz Henrique Mandetta ou o Ricardo Barros, ferrenhos defensores e pessoalmente interessados nos planos privados de saúde e na medicina suplementar. Ora, isso equivale à velha máxima de deixar o galinheiro sob custódia da raposa...
Por outro lado, a Agência Nacional de Saúde – ANS, que tem a enorme responsabilidade de regular o setor, incluindo os reajustes dos planos de saúde, é composto na sua maioria por membros da iniciativa privada. Esses membros, que acabam direta ou indiretamente representando os interesses da iniciativa privada, obviamente lá estão por expressa indicação de políticos eleitos pela mesma população que necessita dramaticamente de apoio público para ter acesso ao campo (da saúde) por essa Agência reguladora. O grande desafio, no meu entendimento, portanto, é a consolidação definitiva, no país, da velha democracia, mas com uma veemente chamada de atenção: a verdadeira democracia só existe com eleitores devidamente escolarizados em termos funcionais, o que está muito longe ainda de o país alcançar.
IHU – Como pesquisador, que futuro o senhor vislumbra para a pesquisa científica no Brasil?
Volnei Garrafa – Embora a produção científica brasileira tenha começado a declinar nos anos mais recentes, atualmente o país ainda ocupa a 13ª posição entre as nações produtoras de ciência no mundo, o que equivale a quase 3% da produção científica mundial. Tal produção, que passou a crescer regular e fortemente entre os anos 1995 e 2015, equivale praticamente à soma da produção de todos os países da América Latina e Caribe juntos.
Como mais de 90% da pesquisa científica produzida no Brasil é desenvolvida nas universidades públicas federais e estaduais, com as mudanças políticas verificadas no país após o golpe de 2016 e que mudaram completamente as prioridades nacionais, especialmente nos campos educacional, científico e tecnológico, com cortes orçamentários crescentes e dramáticos, os números já começaram naturalmente a cair. Sem recurso não se faz pesquisa! Enquanto não mudar o atual governo, infelizmente não vejo no horizonte perspectivas positivas para o futuro da pesquisa científica no Brasil.
IHU – Deseja acrescentar algo?
Volnei Garrafa – Aproveito para registrar rapidamente a necessidade de o Brasil criar um Conselho Nacional de Bioética (CNB) a exemplo dos que já existem em todos os países da Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, Canadá e mesmo em vários países da América Latina (Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, México, Paraguai, República Dominicana). Tais Conselhos tem unicamente poder consultivo sobre grandes questões e conflitos morais, podendo suas deliberações serem formalmente requeridas por expressivas autoridades nacionais especificadas no seu projeto de lei ou decreto de criação.
Usualmente as pessoas capacitadas a requerer a opinião do Conselho - que se funcionar bem pode conquistar um poder moral referencial no país - são os presidentes da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal de Justiça, assim como a própria população de acordo com consulta formal assinada por um determinado número de eleitores especificados na lei de sua criação. Não tenho dúvida que a modernidade representada pela existência de um Conselho deste tipo contribuiria fortemente para a abertura de discussões morais em temas que a população brasileira, embora seja ignorante, é mecanicamente contrária, como a terminalidade da vida, a interrupção voluntária da gravidez, o uso de novas tecnologias reprodutivas, avanços tecnocientíficos em geral, genômica, inteligência artificial etc.
O papel educativo de um CNB seria fortemente estimulador no sentido de o Congresso Nacional passar a pautar na sua agenda temas hoje absolutamente ausentes na legislação brasileira. Infelizmente, um ótimo Projeto de Lei propondo a criação do CNB Brasil está adormecido nas gavetas da Câmara dos Deputados desde o longínquo ano 2005, demonstrando uma vez mais nosso permanente conservadorismo e atraso neste particular.