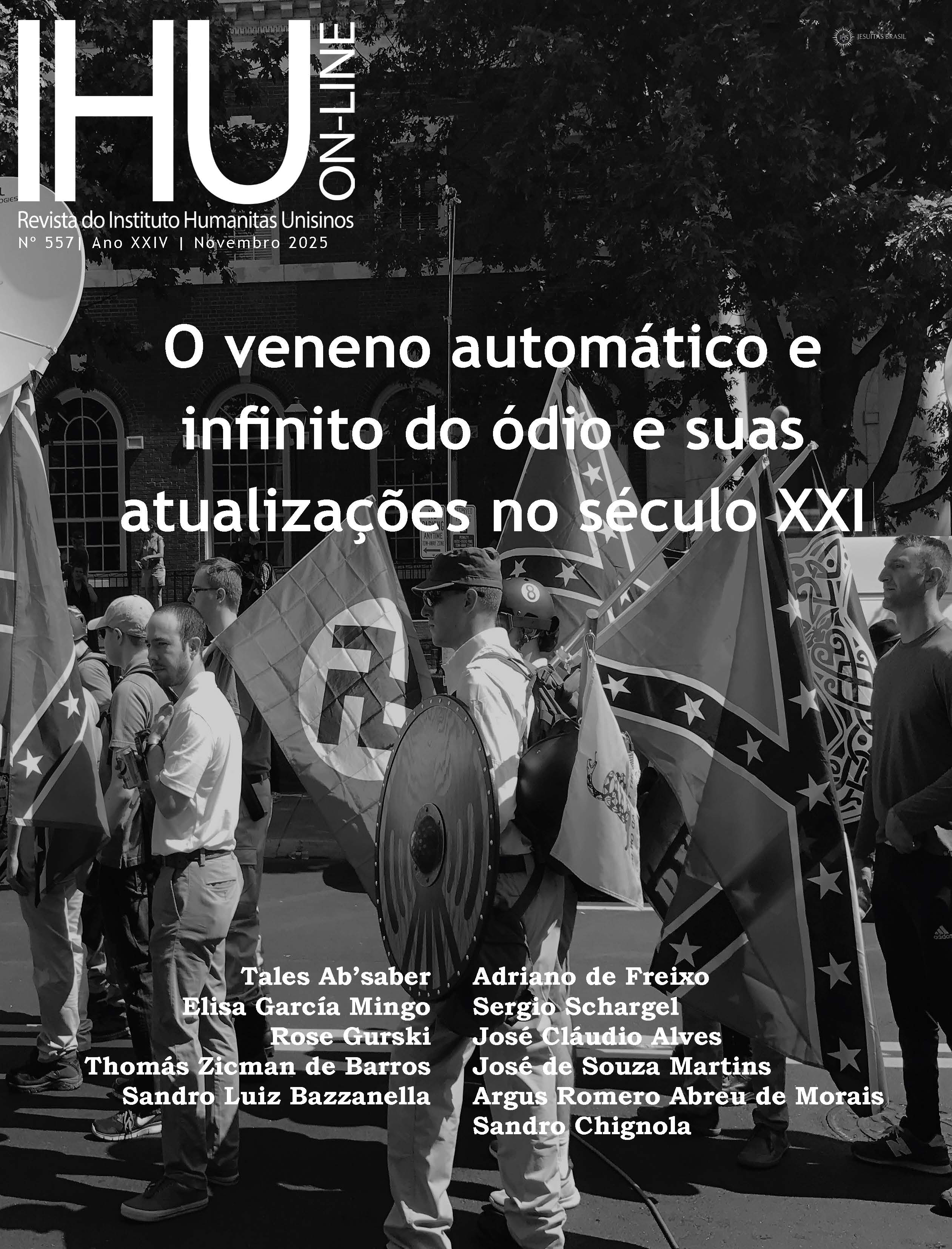31 Julho 2025
Parcerias entre o poder público, acadêmicos e comunidades indígenas fortalecem luta pela criação de uma universidade ancestral, mas burocracia e altos custos são principais entraves. Governo Lula retomou demanda antiga do movimento e deverá publicar, neste ano, proposta de criação da primeira universidade indígena do país.
A reportagem é de Vitória Faria, publicada por InfoAmazônia, 30-07-2025.
Se em tempos de emergência climática o futuro é ancestral, como defende o pensador indígena Ailton Krenak, o destino da universidade também deveria ser. Pelo menos quatro iniciativas comandadas por indígenas no Brasil, em diferentes territórios, confirmam que a antiga demanda pela união de saberes para a criação de uma Universidade Indígena está cada vez mais próxima da realidade.
Três iniciativas iniciadas pelos povos Suruí, da Terra Indígena (TI) 7 de Setembro, dos Guajajara, da TI Arariboia, e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) estão, pelo menos desde 2006, firmando parcerias, escutando comunidades e planejando a criação de uma Universidade Indígena (leia mais abaixo). Alguns desses movimentos ficaram estagnados durante a pandemia da Covid e sob o governo Bolsonaro (2019 a 2022).
No entanto, com a eleição do presidente Lula (PT) e criação do Ministério dos Povos Indígenas, lideranças do movimento retomaram uma antiga demanda de 2009, aprovada na Primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI). Em dezembro de 2022, esses representantes originários reafirmaram essa demanda ao Ministério da Educação e Cultura e ao Ministério dos Povos Indígenas destacando como pauta prioritária para assegurar o direito à educação dos povos indígenas.
O governo, então, criou um Grupo de Trabalho (GT), que já fez 22 audiências públicas com os povos indígenas de todo país, onde foi debatido o modelo ideal de universidade, destacando a importância da interculturalidade e do respeito aos saberes ancestrais.
“O principal ponto que [os povos] levantaram é que seja uma universidade que respeite os conhecimentos indígenas, que os sábios sejam chamados para estarem nas universidades, que a universidade vá até os territórios indígenas, e que tenha professores indígenas atuando nela”, afirma a educadora indígena Alva Rosa Tukano, representante da Região Norte no GT, destacando que, antes, o grupo de trabalho planejava fazer apenas cinco consultas públicas. “Como é que você vai escutar só cinco regiões, quando essas regiões já têm uma infinidade de etnias indígenas? Mais de 180, só na Amazônia brasileira”, questiona Alva. Ela foi uma das defensoras da ampliação do número de consultas para englobar mais comunidades e garantir um diálogo mais representativo.
A estrutura do GT foi dividida em duas frentes: o MEC ficou responsável pelo estudo técnico e orçamentário para viabilizar a implantação da universidade, enquanto o MPI conduziu a escuta dos povos indígenas para sistematizar suas demandas e percepções.
“Juntando as duas proposições [a consulta dos povos indígenas e o estudo técnico do MEC], saiu uma proposta única a partir do Grupo de Trabalho”, afirmou Eliel Benitez, diretor do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas (Deling) do MPI. O plano é que, ainda em 2025, o GT apresente o relatório final, que deve definir uma proposta definitiva para a universidade indígena.
Sobre sua estrutura física e administrativa, a ideia é que “a universidade seja em rede, conectada internamente, com uma centralidade de gestão e unidades regionais que correspondem aos territórios onde os povos estão estabelecidos”, diz.
Eliel explica que essas unidades serão incubadas em universidades públicas federais que já têm experiência com populações indígenas e interesse em receber esse modelo. “Essas instituições serão incubadoras iniciais para a universidade indígena, que depois se tornará independente. A definição concreta fica a cargo do grupo de trabalho”, afirma.
Segundo Eliel, essa estratégia visa acelerar a implantação da nova instituição, aproveitando a experiência prévia dessas universidades com populações indígenas e agilizando processos administrativos e acadêmicos, com a expectativa de viabilizar a entrega da universidade ainda durante o atual governo. “O governo se preocupa muito em fazer essa entrega nesta gestão, por isso a gente utilizaria as instituições já existentes que tenham experiência de formação com seus estudantes indígenas e que queiram receber essa universidade no modelo de incubação”, esclarece Eliel.
O principal desafio para o desenho proposto pelo movimento indígena é a diversidade étnica e linguística dos povos, o acúmulo de conhecimentos e as distâncias de um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Censo Demográfico de 2022 revelou que 1,7 milhão de indígenas vivem em 305 etnias e são falantes de 274 línguas diferentes.
Uma solução estratégica para essa complexidade é a repactuação dos Territórios Etnoeducacionais, articulada entre o Deling e o MEC. Essa política nacional busca pactuar ações de promoção à Educação Escolar Indígena, levando em consideração as especificidades sociais, culturais, ambientais e linguísticas dos territórios indígenas, e voltada à construção de um modelo educacional intercultural, multilíngue e territorialmente fundamentado.
“Os territórios etnoeducacionais abrangem áreas regulamentadas, áreas em litígio e contextos urbanos, e são essenciais para administrar a diversidade em âmbito regional”, explica Eliel. Segundo ele, essa organização ajuda a “amenizar disputas interétnicas e potencializar a diversidade, porque a universidade não será exclusiva de um povo, mas um espaço intercultural e público.”
De acordo com o GT, a proposta da Universidade Intercultural Indígena terá sede em Brasília e prevê três eixos de formação: graduação, pós-graduação e educação continuada, em áreas como formação de professores, engenharia e tecnologias, saúde, gestão ambiental e territorial, políticas públicas, direito e agroecologia. O projeto também planeja a criação do Observatório da Vida Estudantil, com o objetivo de garantir o suporte necessário para a permanência e o sucesso dos estudantes indígenas.
No Maranhão, o Centro de Saberes Tenetehar, idealizado pelo Povo Guajajara da Terra Indígena Araribóia, tem acelerado seu processo de estruturação nos últimos anos e pode se consolidar como a primeira universidade indígena do país.
Para Fabiana Guajajara, diretora do Instituto Tukan, que idealizou a universidade, o projeto surgiu da percepção da falta de continuidade de diferentes iniciativas educacionais. “Nosso objetivo sempre foi fortalecer a língua materna, a cultura, sem deixar também de adquirir os conhecimentos do mundo globalizado”, disse.
Segundo ela, a participação ativa da comunidade é um dos fundamentos da iniciativa. “A universidade vai ser um reflexo de como nossa comunidade pode se organizar e prosperar dentro de suas próprias bases”, afirma. Fabiana aponta que criar o Centro de Saber no próprio território é uma forma de garantir que os povos indígenas tenham controle e autonomia sobre o tipo de conhecimento repassado e a preservação de seus saberes.
Em outubro de 2024, o Instituto Tukan firmou uma parceria com o governo estadual, instituições privadas e a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), realizando a primeira escuta com o povo indígena Tenetehar sobre a criação da futura universidade indígena. Durante o processo, foi assinado um acordo de cooperação com a FAPEMA, que destinará R$ 900 mil para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade.
Também foi realizada uma cerimônia para o lançamento da pedra fundamental da universidade, na aldeia Lagoa Quieta, como um ato simbólico do avanço do projeto. Presente na solenidade, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, natural da TI Araribóia, afirmou que a universidade pode, além de fortalecer o saber ancestral, combater o preconceito.
“Sabemos o quanto é difícil a nossa juventude passar por meio das cotas nas universidades e se manter na cidade. Se você tem a universidade dentro do território, é muito mais oportunidade”, destacou a ministra, que também ressaltou o papel do espaço como local de troca e aprendizado sobre quem são os indígenas e seu papel na preservação dos territórios. “É importante que todo mundo saiba olhar para nós não como os coitadinhos e nem preguiçosos, porque somos nós quem mais trabalhamos para manter essa biodiversidade viva”, afirmou.
No acordo de cooperação, o governo se comprometeu a apoiar a estruturação acadêmica, pesquisa e o financiamento de iniciativas educacionais dentro do território indígena, por meio de bolsas para pesquisadores e coordenadores do Instituto Tukan. O projeto também prevê a realização de quatro escutas públicas em um prazo de 24 meses.
Unipaiter, dos Suruí, tem parceria com Unicamp
Na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, na Terra Indígena 7 de Setembro, avança a criação da Universidade Paiter (Unipaiter), um espaço contínuo para sistematizar o conhecimento ancestral em parceria com professores Paiter e não-Paiter. A Unipaiter busca criar um diálogo horizontal e respeitoso entre o saber Paiter, outras epistemologias indígenas e o modelo ocidental de produção do conhecimento. O objetivo é promover uma reflexão filosófica voltada para o “bem viver”, estruturada em pesquisa, ensino, tecnologia e extensão, acessível a todos os interessados.
“O que serve a nossa experiência aqui, do território do povo Paiter Suruí, é mostrar que é possível desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, respeitando a floresta e sua sabedoria ancestral,” afirma Almir Suruí, Labiway (líder-maior) da Terra Indígena 7 de Setembro e liderança global pelos direitos dos povos originários.
Agamenon Suruí é uma liderança indígena, considerado entre o seu povo como um professor ancião, um guardião dos saberes tradicionais dos Paiter. Para ele, “é muito importante unir esses dois conhecimentos, o indígena e o ocidental. A floresta está em pé porque a gente sabe do valor que ela tem, a gente sabe do alimento que ela produz, da medicina, do solo que é fértil para a nossa produção, mas com uma responsabilidade de não fazer um impacto muito grande nela”, ensina.
A Unipaiter busca se consolidar como um centro de pesquisa científica com base na cosmovisão ancestral, contribuindo para que a academia explore novas formas de compreender a realidade e experimentar outros métodos de investigação.
“Essa é uma ideia [a floresta em pé] que os brancos poderiam aprender com a gente. Mas, a visão de desenvolvimento deles mantém na base a ideia de desmatar, de utilizar o solo de todas as formas, com veneno e só pensando no dinheiro final. O nosso conhecimento poderia ser trocado para trazer um equilíbrio para o mundo nessa crise climática”, reflete Agamenon.
“A barreira linguística foi um grande desafio desde o início. Muito mais desafiador foi me encontrar com o preconceito”, revela Anderson Suruí, vice-cacique do povo Paiter. “O preconceito é uma ameaça à ideia, ao pensamento, à existência de um povo que tá ali para enriquecer essa relação intercultural que o Brasil sempre viveu, mas nunca admitiu essa diferença”, analisa.
Após um período de estagnação, os Paiter Suruí buscam retomar o projeto da universidade. “A gente construiu a ementa dos cursos e, infelizmente, durante o governo Bolsonaro, a gente não tinha muito espaço para discutir isso. Mas buscamos parceria com a Unicamp, que foi a assessoria técnica que ajudou a estruturar o projeto. Onde está hoje? O projeto está parado porque não conseguimos o apoio necessário para continuar funcionando. Agora, estamos buscando parcerias que possam colocar a Unipaiter para funcionar”, explica.
A Universidade Paiter Suruí chegou a realizar dois congressos internacionais presenciais em Cacoal (RO) – o I Soeitxawe em 2015 e o II Soeitxawe em 2019 – que contaram com a parceria da Unicamp e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), além de outras universidades públicas.
Segundo Almir, o movimento busca retomar o ritmo da iniciativa por meio da articulação de lideranças que atuam na Superintendência Indígena de Rondônia e em conselhos estaduais e nacionais de educação. A meta é viabilizar parcerias institucionais e captar recursos para construir a estrutura física e consolidar o modelo educacional intercultural.
Hoje, o povo Paiter Suruí tem aulas de autonomia e autodeterminação e são reconhecidos por sua capacidade de inovação na gestão territorial. No seu Plano de Desenvolvimento Etnoambiental, eles propõem desenvolver a Terra Indígena de forma econômica e política, guiados pelo princípio da sustentabilidade e orientados por um código próprio de normas, que define os direitos e deveres dentro da comunidade.
Entre as iniciativas, destacam-se a produção de um café, que já foi premiado, uma agência própria de etnoturismo e um guia de catalogação de espécies de primatas do território. Também realizaram o biomonitoramento da caça de mamíferos de médio e grande porte, registrando os impactos e promovendo a conservação da biodiversidade.
Uma outra iniciativa, integrada à Unipaiter, busca promover a inclusão digital e social em terras indígenas, alinhando-se à missão de integrar saberes tradicionais e acadêmicos. A Amazon Tech House é um projeto que visa alfabetizar digitalmente jovens e adultos, começando com informática básica e avançando para conceitos mais avançados, como blockchain, uma tecnologia que permite registrar informações de forma segura e transparente, e contratos inteligentes. A ideia é capacitar as comunidades para o rastreamento e certificação de suas cadeias produtivas, o que abre portas para o mercado global e fortalece a sustentabilidade ainda maior no território.
Anderson Suruí, vice-cacique Paiter e idealizador da Tech House, explica que “a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão financeira, social e de proteção territorial”. Inicialmente alocado na Aldeia Gamir, o projeto tem planos de expansão para outras aldeias, mostrando que esses projetos não são apenas para o curto prazo, estruturam uma governança indígena dentro dos territórios.
COIAB articula ações para fortalecer iniciativas de universidades nos territórios
Desde 2006, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) trabalha com o Centro Amazônico de Formação Indígena (CAFI), com o objetivo de criar uma universidade para os povos da Amazônia.
Gracinha Manchinere, gerente do CAFI, lembra que, com a Constituição de 1988, os povos indígenas ganharam o direito de se organizar e criar suas próprias instituições. “Mas, na prática, eles encontraram uma barreira. E essa barreira era justamente como trabalhar, a partir da demarcação das terras indígenas, a gestão dos seus territórios”, afirma.
Para que os povos indígenas pudessem ser os agentes principais da gestão de suas terras, o CAFI iniciou suas atividades com três cursos fundamentais: gestão territorial, gestão ambiental e gestão de projetos. Essa formação trouxe resultados importantes para o movimento indígena. “Até hoje, nós temos lideranças que assumiram cargos estratégicos no movimento e que contribuíram com as suas organizações”, afirma Gracinha.
Na época, o desejo das lideranças era que o CAFI se tornasse uma universidade indígena da Amazônia. Porém, o centro esbarrou em um desafio presente até hoje: a institucionalização da educação. Gracinha explica que, embora o movimento tenha avançado em muitas áreas, o reconhecimento acadêmico da educação indígena ainda é um obstáculo significativo.
“Para tornar uma universidade indígena, é necessário que o Estado reconheça essa diversidade e aceite o modelo educacional indígena como parte do sistema educacional oficial do Brasil”, destaca a gerente do CAFI.
Ela ressalta que, atualmente, muitos povos indígenas já têm mestres e doutores, o que é uma das exigências para a criação da universidade. Contudo, reconhece que outras exigências impedem que o processo de formação seja reconhecido. “A outra exigência é que, para qualquer tipo de reconhecimento do processo de formação, nós precisamos ter o CNPq, precisamos ter o Ministério da Educação alinhado com o novo pensamento de formação para que o Estado reconheça essa diversidade”, explica.
Apesar das leis existentes, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), a Base Nacional Curricular Comum e o Plano Nacional de Educação, que fundamentam a educação escolar indígena, Gracinha explica que essas ainda não permitem a criação de uma universidade indígena com características próprias. “Essas leis ainda não dão abertura para que o próprio movimento tenha a sua própria universidade com essas características da intelectualidade, de dialogar o conhecimento científico com o conhecimento indígena”, conclui.
Para ela, o avanço nesse processo requer mais diálogo e esforços conjuntos para que os povos indígenas possam, de fato, ter sua educação respeitada e institucionalizada no sistema educacional nacional.
Apesar dos desafios, o movimento indígena brasileiro vem consolidando o caminho para a tão sonhada Universidade Indígena. Mais do que estruturas físicas como prédios, salas e bibliotecas, a luta é para alterar a própria base do saber, incluindo o conhecimento ancestral – já que, infelizmente, as universidades tradicionais têm dificuldades de incorporar a sabedoria dos povos originários.
Hoje, os povos indígenas já estão no caminho de ocupação dos espaços universitários. Nas salas das universidades de toda a Amazônia Legal, a matrícula de indígenas aumentou 245% entre 2012 e 2022 – o índice de formandos, porém, é menor do que 10%. Os números são um retrato do contraste entre o necessário e efetivo aumento de políticas públicas de ingresso, como as cotas, e a ausência de mecanismos de permanência, com combate ao preconceito e apoio econômico para alunos que estão distantes do próprio território.
Se a dificuldade é ir até a universidade, agora o esforço é por iniciativas que façam a universidade nascer na própria floresta, dentro e a partir das comunidades indígenas.
Pauta selecionada pelo 6º Edital de Jornalismo de Educação, da Jeduca e da Fundação Itaú. Esta reportagem foi produzida de forma colaborativa entre InfoAmazonia e Amazônia Vox, e faz parte da Rede Cidadã InfoAmazonia, iniciativa para criar e distribuir conteúdos socioambientais da Amazônia.
Leia mais
- Cosmovisão indígena: criação, encarnação e saída desse mundo
- Teko Porã e o caminho das belas palavras do Povo Guarani, uma resistência ancestral. Artigo de Margot Bremer
- O grande desafio dos indígenas nos países andinos: seus direitos sobre os recursos naturais. Artigo de Xavier Albó. Cadernos IHU Ideias, Nº. 225
- O que caminhar ensina sobre o bem-viver?
- O bem viver ancestral. Uma cosmovisão indígena
- Bem Viver, elemento para o Pós-Capitalismo?
- O Mal e Bem Viver dos Povos Indígenas no Brasil
- Povos Indígenas, eleições e o Bem Viver
- Desenvolvimento, Bem Viver e busca de alternativas
- O auge e a queda do “Bem Viver”
- Para entender a fundo os sentidos de Bem Viver
- O pacto de morte contra os índios e contra o Bem Viver. Entrevista especial com Roberto Liebgott
- Bem Viver indígena, muito além do welfare state. Entrevista especial com Guillermo Wilde
- “O Bem Viver indígena vai além do capitalismo e do socialismo”
- Os Guarani e seu “Bem Viver”
- Sumak Kawsay: uma forma alternativa de resistência e mobilização. Entrevista especial com Pablo Dávalos
- Sumak kawsay. Nem melhor, nem bem: viver em plenitude. Entrevista especial com Esperanza Martínez
- Catástrofe climática: a Terra inóspita e inabitável
- Atlas Esgotos revela mais de 110 mil km de rios com comprometimento da qualidade da água por carga orgânica
- Brasileiros não sabem se tem agrotóxicos na água que bebem
- Benefícios econômicos gerados pela mineração não revertem em desenvolvimento humano. Entrevista especial com Heloísa Pinna Bernardo
- Pesticidas, herbicidas e inseticidas. Venda cresce três vezes mais do que lavouras
- Emissões nacionais de gases de efeito estufa subiram 8,9% em 2016 em comparação com 2015
- Novos dados de satélite confirmam o aumento acelerado do nível do mar
- Brasil gasta 1,5 Bolsa-Família incentivando combustíveis fósseis
- Laudato Si’, a encíclica dialógica em favor da vida
- Papa Francisco lança um novo olhar sobre a pobreza, a paz e o planeta
- Comissão do Senado aprova fim de símbolo de alerta transgênico
- As soluções inovadoras para gerar mais e melhores fontes de energias renováveis no mundo
- Potencial da energia solar de geração fotovoltaica ainda é pouco explorado no Brasil
- Perguntas frequentes sobre deslocamentos forçados por mudanças climáticas e catástrofes naturais