Este esplêndido ensaio cobre os eixos essenciais da vida e da obra, extensa, rigorosa, versátil e sem dúvida brilhante de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), figura transcendente na literatura (poesia, romance e teatro), no pensamento político de seu tempo e, no cinema, criador de filmes como O Evangelho Segundo São Mateus, Saló ou os 120 dias de Sodoma, Decameron e Os Contos de Canterbury, só para citar alguns, cuja dimensão é necessário recuperar, afirma-se aqui, “como o lado subversivo e vital que continua a ser para quem adentrar em suas águas”.
A reportagem é de Sergio Huidobro, publicada por La Jornada, 06-03-2022. A tradução é do Cepat.
A lápide sobre o túmulo de Pier Paolo Pasolini fica o dia todo sob a sombra de uma árvore frondosa e a duas ou três mãos de outra laje com o nome de sua mãe, Susanna. Estão no centro de um jardim tão discreto e apertado que se pode imaginar que, por baixo, as pernas dos mortos saem da borda. O cemitério fica no povoado nordestino e frulano de Casarsa. Não muito longe da casa de campo onde Susanna nasceu e cresceu, Pier Paolo escreveu seu primeiro livro quando jovem e ambos tão próximos quanto agora, mas vivos, refugiaram-se esperando que a guerra acabasse e o pai, um militar fascista que salvou a vida de Mussolini, voltasse ou morresse longe, o que quer que fosse.
Muito antes de se assumir ateu, comunista, marxista, libertino ou amoral, Pier Paolo nasceu com o nome de dois apóstolos no dia 5 de março de 1922, há um século, em Bolonha. Sete meses depois, Mussolini liderava a marcha fascista sobre Roma e usurpava o governo da República moribunda. Vinte anos depois, enquanto Pasolini escrevia versos no dialeto frulano que acabariam sendo publicados como Viagem a Casarsa (1942), a região norte do entorno da cidade não estava ligada à Itália, mas à infame República de Saló, o efêmero estado fascista administrado como satélite pela Alemanha nos últimos anos da guerra. Pier Paolo voltou três vezes, já como cineasta, a esses cheiros de pólvora azeda: na parte inicial das filmagens de Édipo Rei (Edipo Re, 1967), que é ao mesmo tempo uma memória do trauma e uma fantasia parricida – a criança que chora a mãe, tomada nos braços pelo pai fascista que haverá de morrer nas mãos do filho –, mais tarde em Pocilga (Porcile, 1969) como uma farsa canibal sobre a cumplicidade fascista ítalo-alemã e, finalmente, como abscesso fedorento e gangrenado na sociedade do pós-guerra, como Saló ou os 120 dias de Sodoma (Saló ou le 120 giornate di Sodoma, 1975), que estreou três semanas após o assassinato do cineasta.
Pier Paolo não tinha como saber, mas, naqueles mesmos meses de 1943, enquanto aprendia a ler e a versar em dialeto, Federico Fellini e Giuletta Massina se casavam sob os alarmes dos bombardeios, Roberto Rosellini dirigia seus primeiros filmes sob os auspícios de Vittorio Mussolini, filho do ditador, e Luchino Visconti foi capturado nas montanhas do Lácio, onde havia se escondido sob um pseudônimo, como partidário comunista. Todo o cinema da Itália mutilada já estava nidificando, em embriões iminentes dos quais o neorrealismo seria apenas o primeiro. Como Fellini, com quem escreveu os diálogos de Noites de Cabíria (1957) e com quem se uniu por uma tímida amizade antes de um distanciamento mútuo, Pier Paolo percorreu o caminho do neorrealismo em Accatone – Desajuste social (1961) e Mamma Roma (1962), antes disso o curta-metragem La ricota (1962, incluído na antologia Rogopag – Relações humanas), e especialmente O Evangelho Segundo São Mateus (1964) iniciaram uma série de rupturas sucessivas e progressivas com sua própria filmografia, como uma matrioska de ideias filmadas que, embora aparentemente contraditórias, estão encadeadas em harmonia como uma busca constante de liberdade.

Pôster com ilustração de Pier Paolo Pasolini (Foto: Pixabay)
Mas suas guerras viriam em outras frentes e seriam travadas em vários terrenos, embora naqueles tempos de paz armada e calma tensa na casa de campo de Casarsa tenha ocorrido o primeiro encontro com Antonio Gramsci, encarcerado quando Pasolini tinha quatro anos e que morreu em 1937. Visto à distância, no longo poema em cantos As Cinzas de Gramsci (1957), escrito como uma confissão diante do túmulo do marxista em Roma, Pasolini parece oferecer a culpa por sua criação pequeno-burguesa no norte e pelo fascismo paterno em face da humildade natal, sulista, do autor dos Cadernos do Cárcere: “[...] adolescente confuso / odiei [o mundo] um dia quando me feriu / o mal burguês que em mim – burguês – havia./ E agora compartilho com você o mundo.[…] Vivo no não-querer/ do apagado pós-guerra, amando/ o mundo que odeio – perdido em sua decepcionante/ miséria – graças a um obscuro escândalo de consciência…”.
Terminada a guerra, o pai preso e a economia italiana em frangalhos, Pasolini chegou a Roma, mas evitou a tentação de se tornar romano. Para isso contava com seus amigos mais próximos da capital: os irmãos Sergio e Franco Citti – corroteirista e ator, respectivamente, de vários de seus filmes – e o romancista Alberto Moravia, companheiro inseparável de diálogos, caminhadas e descobertas. Embora sua língua materna fosse o italiano e não falasse com nenhum sotaque regional, sua defesa da poesia dialetal e da plena dignidade das línguas do terrunho o acompanharam desde a adolescência em Casarsa. Ingressou em associações em defesa da autonomia frulanense, fundou uma academia com o mesmo objetivo, que batizou com o nome de seu irmão Guido, morto na guerra, e deixou ainda escritas teorias tão precoces quanto maduras sobre a diversidade linguística italiana e sua resistência frente a sucessivas tentativas do Império Romano, da Igreja Católica, da sociedade midiática de consumo e, por fim, do capitalismo industrial de esmagar as línguas que não o idioma centralista e acadêmico imposto pela unificação do século XIX.
Há, é claro, uma tradição ao mesmo tempo robusta e periférica em que coincidem poetas do porte de Andrea Zanzotto ou Antonia Pozzi, que conheciam e escreviam dialetos de raízes rurais: ele em veneziano e ela em lombardo ocidental. Mas abaixo da tradição poética das regiões, agreste, camponesa e em grande parte de tradição oral devido aos índices de analfabetismo, correm rios mais estreitos como Salvatore di Giacomo (napolitano) ou Albino Pierro (lucano), quase esquecidos pela padronização do italiano oficial.
Pasolini não pertencia, por parte da língua materna, a nenhuma literatura dialetal. Como filho não só da pequena burguesia do norte, mas do setor cultivado dessa elite, aprendeu a ler e a escrever quando o italiano oficial ainda estava em processo de padronização. Não falava frulano nem qualquer outra língua regional, mas sentia por elas uma afinidade política que tinha muito a ver com a sua própria vontade de habitar todas as margens possíveis da sociedade italiana: era anticlerical de raiz católica, imbuído de um senso da compaixão profundamente cristã, ao mesmo tempo era um marxista que criticava sem eufemismos o Partido Comunista Italiano quando este exigia a unidade stalinista, e era um homossexual público, sensual e hedonista que ao mesmo tempo jogava futebol com paixão, numa Itália onde o esporte era – e ainda é – uma seita da virilidade.
Nem a crítica de cinema, que na Itália sempre é escrita por militantes aguerridos, nunca se acostumou a ele: se se acreditava que era neorrealista ou ateu, passava a adaptar um evangelho, mas se se aplaudia sua intensidade dramática, ele se voltava para uma comédia absurda com Totó (Gaviões e Passarinhos, 1966), e quando se exigiu dele um compromisso com o presente, voltou-se reverentemente para Sófocles (Édipo Rei), Bocaccio (Decameron, 1971), Chaucer (Os Contos de Canterbury, 1972), Eurípides (As mil e uma noites, 1974) ou Sade. Em um ensaio de 1965 intitulado “Cinema de poesia”, ele distingue o sistema de signos linguísticos escritos dos signos visuais como o close-up ou o plano-sequência.

Imagem do set do filme Gaviões e Passarinhos (Foto: Domiínio público | Wikimedia Commons)
O signo linguístico, encarnado pela burguesia culta na palavra escrita, é para Pasolini inseparável de seu uso instrumental, pois o mesmo sistema serve para dizer “boa tarde” como para ler Petrarca, Dante ou um discurso político. Seu crescente interesse pela imagem cinematográfica veio depois de ter publicado vários romances e mais de dez coletâneas de poemas entre inúmeros textos teóricos. A imagem filmada era, para ele, um rio poderoso que unia todos aqueles canais linguísticos. Se o uso dos silêncios em Édipo Rei, Pocilga e especialmente em Teorema for cuidadosamente observado, respondem a uma necessidade latente de evitar o diálogo, permitindo que as imagens se expressem com a maior ambiguidade ou força plástica possível. Em certas sequências fundamentais dos filmes mencionados, e de forma inesquecível em Saló, o que se vê é mais importante do que aquilo que se diz ou se ouve.
Essas tensões estéticas entre o Pasolini da escrita – romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, colunista ou roteirista comissionado – e o Pasolini do olhar – cineasta de ficção, pintor, documentarista – nem sempre são tão claras. Mais do que uma região terrena ligada por estradas sob o mesmo clima e uma linguagem mais ou menos homogênea, sua vida criativa assemelha-se a um arquipélago acidentado de ilhas que se roçam sem se tocarem, cada uma com sua flora e costumes. Quando em 1968 publicou o Manifesto para um novo teatro na revista marxista Nuovi Argomenti, fundada por Moravia, estava terminando Teorema (1968), montando Orgia (1967) no teatro e já havia dirigido nove vezes entre ficções, curtas e documentários.
A tradução entre linguagens estéticas não era novidade para ele ou para seu público – com uma parcela crescente de detratores que às vezes o insultavam na rua, para o seu prazer –, mas no Manifesto teatral intui-se uma consciência de classe lúcida que seria cada vez mais visível e subversiva em seus próximos e últimos sete filmes, que vão do já citado Teorema a Saló (1975): a consciência de que o interlocutor natural de seu cinema eram aqueles que constituíam “a classe intelectual que forma a parcela avançada da burguesia”. Dessa forma, Pasolini se sabia e se aceitava como um burguês nato – algo em que abundava durante a amizade fervorosa e platônica com sua virgem íntima, Maria Callas –, mas isso, longe de contrariá-lo como em sua adolescência de fervor gramsciano, tornou-se um terrorismo moral apaixonado baseado no direito de sacudir a hipocrisia e o vazio consumista da sociedade italiana, midiática e burguesa do pós-guerra, que ele desprezava em público e no privado até sua última entrevista gravada em áudio, em Estocolmo, setenta e duas horas antes de sua última noite com vida.
As amplas e densas planícies do vasto norte italiano, desde as paisagens alpinas a oeste até as bordas orientais do Vêneto, com Trieste como limite com o mundo germânico; nesta extensa paisagem, tradicionalmente burguesa, industrial e, portanto, um destino para a migração de trabalhadores do sul mediterrâneo, entre 1943 e 1945 ocorreram duas metamorfoses abruptas: Pier Paolo Pasolini cresceu na área veneziana de Friuli enquanto a região da Emilia-Romagna era transformada durante dois anos na República de Saló, epicentro do fascismo, satélite nazista e centro de operações de Mussolini.
A agora chamada Trilogia da Morte, um tríptico dantesco e amargo que Pasolini planejava como o reverso da sua célebre Trilogia da Vida, teria consistido em três etapas: uma alegoria sombria da depravada República de Saló baseada na Sodoma do Marquês de Sade, depois de uma biografia do infanticida francês Gilles de Rais e, por fim, de uma gigantesca farsa sobre a criminalidade lumpen na periferia romana através de uma família goiesca e buñueliana. O último desses projetos foi escrito durante a vida de Pasolini por Ruggero Maccari e Ettore Scola, e acabaria por ser dirigido com sucesso por este último como Feios, Sujos e Malvados (Brutti, sporchi e cattivi, 1976). O projeto sobre Rais se perdeu (se tinha sido escrito) e apenas o primeiro deles, Saló, foi concluído por Pasolini e que estreou três semanas depois que o corpo do cineasta foi encontrado de madrugada em um descampado de Ostia, vítima de uma brutalidade que parecia emanada do próprio filme póstumo.
Exatamente um século depois do nascimento de Pier Paolo Pasolini, o artista mais incômodo e, portanto, mais necessário para a Itália no século passado, é importante parar de recordá-lo a partir daquela morte infausta, muitas vezes perversa e injustamente romantizada como o sacrifício de um mártir, e recuperar sua obra como o lado subversivo e vital que continua sendo para quem adentrar em suas águas. Uma celebração do olhar compassivo, da escuta atenta e da imprescindível capacidade de admiração e reinvenção. Em suas últimas opiniões públicas, bem como no último livro que publicou sob o título de Cartas luteranas (Lettere Luterane, tr. Editorial Trotta, 1997), Pier Paolo defendia apaixonadamente um ideário impossível, mas irrepreensível: a abolição definitiva da escola e da televisão, da burguesia industrial – que ele recriminava não tanto pelo dinheiro como pelo desprezo pela cultura – e da sociedade de consumo, que o angustiava como uma silenciosa reinvenção dos mecanismos fascistas cujo objetivo final, pensava ele, era fazer com as mentes e espíritos livres o que Hitler, Mussolini, Calígula ou Stalin tentaram fazer com os corpos, e que nas duras imagens de Saló atingem sua denúncia mais desesperada: “Escandalizar é um direito”, ele havia dito à televisão francesa algumas semanas antes, “e ficar escandalizado é também um prazer. Só os burgueses moralistas recusam o prazer universal de se escandalizar”.
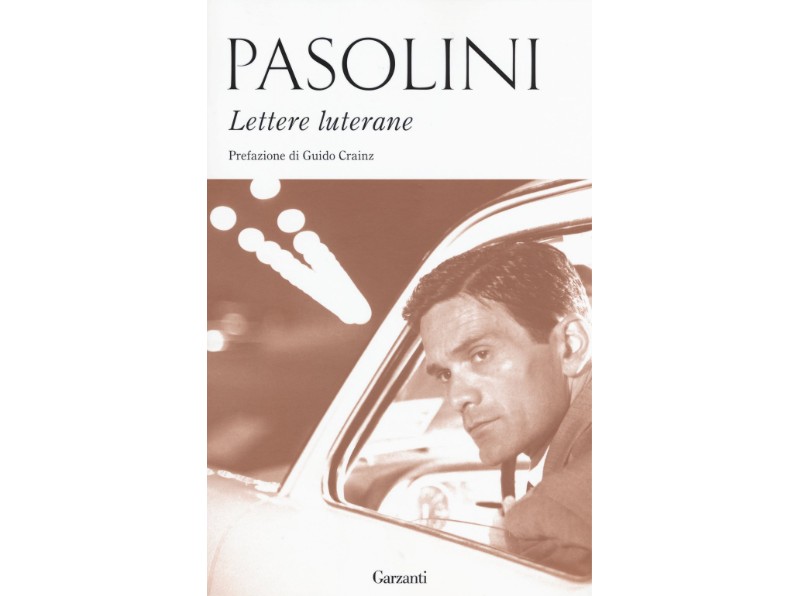
Capa do livro "Cartas luteranas" (Foto: Divulgação)
Um de seus poemas mais lembrados, “Ao Príncipe”, apareceu pela primeira vez em A religião do meu tempo (La religione del mio tempo, Ed. Garzanti, 1961), no mesmo ano em que fez uma pausa em sua obra romanesca para abraçar a filmagem de seu primeiro filme, Accatone – Desajuste social: “Para ser poeta é preciso ter muito tempo/ horas e horas de solidão são a única maneira/ de forjar algo, que seja força, abandono,/ vício, liberdade, para dar estilo ao caos. / Agora tenho pouco/ tempo: por causa da morte/ que já vem no crepúsculo da juventude./ Mas também por causa/ do nosso mundo humano,/ que tira o pão dos pobres, e toda a paz dos poetas”.
Ele ainda teria quinze anos de vida e quase vinte filmes pela frente. Mesmo assim, teve tempo de mudar tudo e deixar para trás um espelho sem tempo no qual, mais cedo ou mais tarde, acabamos refletidos. Honra a Pier Paolo Pasolini em seu primeiro século de vida.